Há silêncios que gritam. E há outros, mais cruéis, que se instalam como poeira em uma sala vazia, deixando apenas o eco do que poderia ter sido. Certa vez, alguém chegou tímido, olhos baixos, como quem se aproxima de um precipício. Veio três, talvez quatro vezes. Falamos de medos, de sonhos, de dores que não cabiam em palavras — até que um dia não veio mais. Não avisou, não respondeu. Sumiu como se nunca tivesse existido.
Outra pessoa apareceu com urgência, quase em súplica, pedindo um valor social para poder iniciar o tratamento. Ajustamos, combinamos, começamos. Duas sessões depois, o vazio. O horário marcado permaneceu ali, intacto, como uma cadeira vazia que parecia me perguntar: “onde ela está?”.
Mas o caso mais gritante foi de um homem da área da saúde. Marcamos no meio de um feriado, eu fui, ele foi. Conversamos, estabelecemos a dinâmica. Saí daquele encontro com a sensação de que algo havia começado. Na semana seguinte, ele não apareceu. Não avisou. Não respondeu. Como se uma porta tivesse se fechado sem sequer bater.
Esses desaparecimentos não são apenas ausências. São pequenos terremotos que deixam rachaduras invisíveis. É como se cada “não comparecimento” trouxesse um enigma: o que, afinal, se quebra quando alguém some sem dizer nada? O vínculo? A confiança? Ou algo muito mais profundo — uma parte de si que não suporta se ver refletida no olhar do outro?
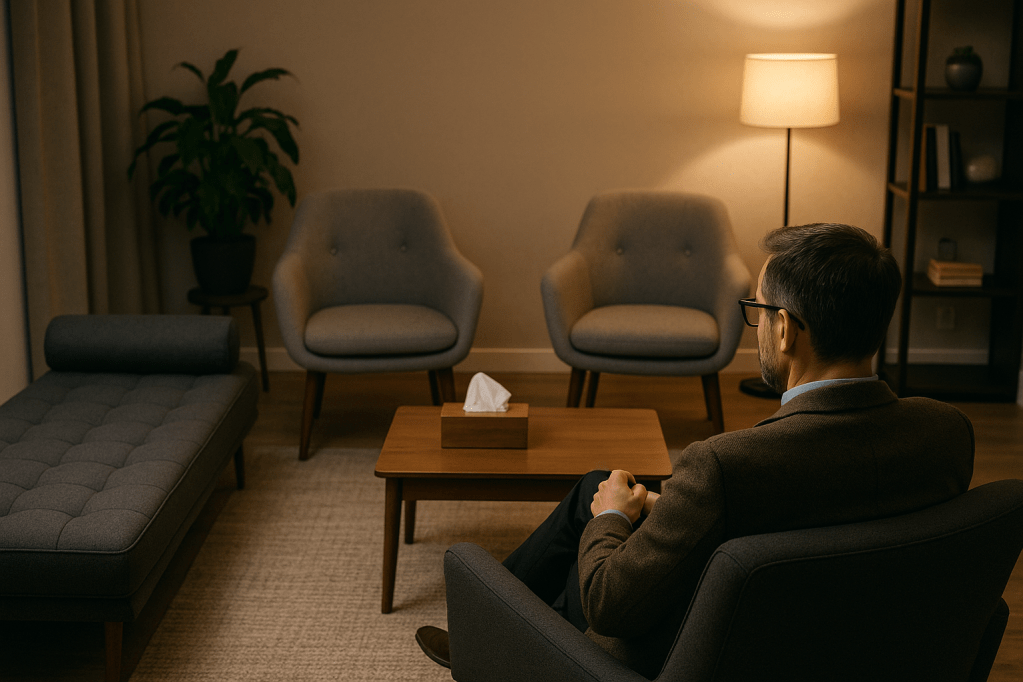
O desaparecimento como sintoma
O desaparecimento, na clínica, nunca é apenas o que parece. À primeira vista, ele se veste de descaso: alguém não aparece, não avisa, não paga, não responde. Mas, por baixo desse gesto abrupto, pulsa uma linguagem secreta. Na psicanálise, aprendemos que o silêncio fala, e que às vezes a fuga diz mais do que a permanência.
Freud nos ensinou que toda resistência guarda algo precioso: aquilo que o sujeito ainda não suporta olhar. Quando a palavra começa a roçar o ponto mais sensível, o corpo pode reagir com um movimento radical — ir embora, desaparecer. Nesse sentido, o sumiço não é desinteresse, mas uma forma de gritar sem som, de proteger algo ainda frágil. É como se, ao não aparecer, o paciente dissesse, sem dizer: “é demais para mim agora; não consigo atravessar essa porta.”
A transferência acrescenta outras sombras a esse fenômeno. O analista não é apenas ele mesmo: ele carrega, para o paciente, rostos antigos, feridas antigas, histórias que ficaram suspensas no tempo. Quando alguém interrompe o tratamento sem explicação, talvez esteja repetindo um enredo muito anterior àquele encontro. Pode ser a mãe que não estava presente, o pai que se ausentou, o amor que partiu sem aviso. O desaparecimento, então, não é dirigido ao analista como pessoa, mas ao que ele representa — uma teia invisível de vínculos, perdas e expectativas.
E há ainda a contratransferência, esse território secreto que habita o coração do analista. O silêncio do outro não cai no vazio: ele reverbera. Traz chateação, frustração, tristeza — mas também perguntas que parecem não ter resposta. É como uma pedra lançada em um lago: a ausência do paciente cria ondas internas que se espalham, revelando questões que talvez nem o próprio analista soubesse carregar. O abandono, ainda que passageiro, nos faz tocar delicadamente as marcas das nossas próprias faltas, aquelas que aprendemos a esconder sob a rotina do consultório. E, nesse turbilhão íntimo, o desafio não é apenas compreender o outro, mas sustentar-se diante daquilo que se rompe silenciosamente no espaço que une — e separa — dois mundos.
Paradoxalmente, quem foge não está necessariamente negando a importância do vínculo. Muitas vezes, está justamente confirmando o quanto esse vínculo importa. Pois só fugimos daquilo que nos ameaça de alguma forma — mesmo que essa ameaça seja, no fundo, a possibilidade de transformação.
Fantasmas contemporâneos
Vivemos em uma época que parece celebrar o direito de ir embora sem se despedir. As relações, líquidas e frágeis, muitas vezes se desfazem como fumaça. Se algo incomoda, se o desconforto se aproxima, basta fechar a janela da conversa, bloquear um número, deixar uma mensagem sem resposta. Esse gesto, aparentemente banal, é mais do que uma fuga: é um sintoma social.
Byung-Chul Han descreve nosso tempo como a sociedade do cansaço — um mundo onde a exigência de desempenho constante transforma vínculos em contratos provisórios. Conflitos são evitados porque consomem energia demais. Assumir a própria palavra, sustentar uma presença, tornou-se quase uma revolução silenciosa. Ao desaparecer sem explicação, muitos escolhem a saída mais rápida: poupar-se do peso emocional de um confronto, ainda que à custa de ferir o outro. Não se trata apenas de covardia, mas de uma cultura que nos ensinou a temer o desconforto mais do que a mentira.
Sloterdijk, por sua vez, fala do cinismo moderno: todos sabemos que o jogo é sujo, mas continuamos jogando. O sujeito que desaparece sem aviso talvez saiba, lá no fundo, que está sendo injusto — mas acredita que esse comportamento é a regra do mundo, não a exceção. É o cinismo que sustenta as relações frágeis: uma certeza amarga de que ninguém deve nada a ninguém, de que tudo pode ser descartado, inclusive pessoas. Nesse cenário, o silêncio não é vazio: ele é estratégico, uma forma de preservar a si mesmo, ainda que ao preço da destruição do vínculo.
Edgar Morin nos lembra que o humano é complexo, sempre entrelaçado a redes de sentido, afetos e responsabilidades. O desaparecimento, visto por esse prisma, não é apenas uma escolha individual, mas um reflexo de uma crise coletiva de ética e compromisso. Estamos perdendo a capacidade de manter o fio, de sustentar a tensão que existe entre dois mundos: o eu e o outro. Quando alguém não aparece, não avisa, não responde, não está apenas dizendo “não posso” ou “não quero” — está expressando, mesmo sem saber, a fragilidade de um tecido social que se desmancha diante dos nossos olhos.
A clínica, nesse contexto, se torna um espaço raro. Um lugar onde a presença ainda importa, onde cada encontro desafia o ritmo apressado do mundo. Quando um paciente desaparece, ele traz consigo, não apenas sua história pessoal, mas também os ventos frios de uma época que parece cada vez mais assombrada por fantasmas de indiferença.
Compromisso e ética: o espaço vazio entre dois mundos
Há algo de profundamente subversivo em comparecer. Chegar no dia e na hora combinados, sentar-se diante do outro e permanecer ali — mesmo quando é difícil, mesmo quando dói. Num tempo em que tudo pode ser cancelado com um clique, estar presente tornou-se uma forma silenciosa de resistência.
Cada sessão é um fio tecido entre duas subjetividades. Frágil, às vezes quase invisível, esse fio se fortalece a cada encontro sustentado. Quando alguém falta sem aviso, esse fio não se rompe apenas no plano prático: ele se desfaz no território simbólico, deixando atrás de si um vazio cheio de perguntas. Na clínica, esse vazio fala — e fala alto. Ele questiona não só o paciente, mas também o analista e, em última instância, a própria cultura em que ambos estão inseridos.
O compromisso que nasce no espaço terapêutico não é o mesmo de um contrato comercial. Não se trata de uma obrigação externa, mas de uma ética íntima: a disposição de se implicar, de se responsabilizar por aquilo que emerge na relação. Cada encontro é, de certo modo, um pacto tácito: “eu estarei aqui, e você também”. Quando esse pacto é quebrado sem palavras, não é apenas uma sessão perdida — é a própria confiança que se vê ameaçada.
Mas essa confiança não é estática, ela precisa ser cultivada. Ela exige coragem para enfrentar o desconforto, para sustentar a tensão entre o que queremos fugir e o que precisamos enfrentar. Comparecer é reconhecer a complexidade das relações, é aceitar que estar junto não significa harmonia plena, mas sim atravessar o conflito sem destruí-lo.
Quando um paciente desaparece, ele talvez esteja tentando matar algo — não o analista, não o vínculo, mas uma parte de si que teme se transformar. O sumiço, então, é uma defesa, uma última barreira contra a mudança. E, paradoxalmente, é também um convite silencioso para que o analista olhe para esse espaço vazio e não desista de escutá-lo.
A clínica é, assim, um ato político. Num mundo de fugas fáceis e vínculos frágeis, ela nos lembra que ficar pode ser mais revolucionário do que partir. Estar presente, de corpo e alma, é afirmar que o outro existe — e que, apesar de todas as ausências, ainda há algo a ser cuidado no espaço entre dois mundos.

Conclusão: o pacto silencioso
No início, falei de silêncios que gritam. De presenças que se dissolvem como neblina, deixando para trás apenas uma cadeira vazia e uma pergunta que ninguém ousa formular. Esses desaparecimentos são como pequenos terremotos: não derrubam a casa inteira, mas racham o chão sob nossos pés.
A clínica me ensinou que não existem ausências puras. Todo desaparecimento carrega uma mensagem cifrada, mesmo quando a palavra não vem. Às vezes, quem some não está dizendo “não me importo”, mas sim “não suporto”. Não suporto a dor de continuar, a vertigem de me transformar, o risco de ser visto exatamente como sou. Desaparecer pode ser, paradoxalmente, um modo de permanecer — mesmo que seja no lugar secreto onde a linguagem não chega.
Vivemos em uma era que banaliza a partida. As pessoas vão embora sem fechar a porta, como se o mundo fosse apenas um corredor infinito de portas entreabertas. Mas a clínica insiste em algo que a cultura contemporânea tenta esquecer: a presença tem peso. Cada encontro sustentado desafia a pressa, a indiferença, o egoísmo. Estar junto, ainda que em silêncio, é um ato político, ético e profundamente humano.
Talvez nunca saibamos por que alguém desaparece. Talvez o sentido desses gestos permaneça envolto em sombras, como a vida mesma. Mas sei que, cada vez que um paciente retorna, mesmo depois de um longo intervalo, algo se reencanta. Porque a clínica não é feita apenas de palavras ditas, mas também de portas que se abrem, lentamente, quando alguém decide ficar.
No fim, tudo se resume a um pacto silencioso:
“Eu estarei aqui, mesmo que você vá embora.
E, se um dia quiser voltar, este espaço ainda estará te esperando.”
Referências
Freud, S. (1996). Observações sobre o amor de transferência (1915). In S. Freud, Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud (Vol. XII). Rio de Janeiro: Imago.
Freud, S. (1996). Recordar, repetir e elaborar (1914). In S. Freud, Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud (Vol. XII). Rio de Janeiro: Imago.
Han, B.-C. (2015). Sociedade do cansaço. Petrópolis: Vozes.
Morin, E. (2005). O método 1: A natureza da natureza. Porto Alegre: Sulina.
Morin, E. (2015). Introdução ao pensamento complexo (5ª ed.). Porto Alegre: Sulina.
Sloterdijk, P. (2012). Crítica da razão cínica. Lisboa: Relógio D’Água.


Deixe um comentário