Ele conta que foi a uma sala de concerto, pela primeira vez. O palco iluminado, os violinos afinando, o murmúrio contido de um público que parecia saber exatamente quando respirar. E então — silêncio. O maestro ergueu a batuta, e algo começou. Édouard Louis, ainda jovem, olhava para aquela orquestra com uma mistura de espanto e culpa. Espanto pelo que via; culpa por pensar na mãe, lá longe, sem nunca ter tido acesso àquele tipo de beleza. A música, de repente, soava como um privilégio.
No podcast Les Couilles sur la Table, ao relembrar esse momento, a voz dele treme um pouco. Não pelo sentimentalismo, mas por algo mais fundo: a consciência de que ver o mundo de outra forma custa caro. É o preço simbólico de quem atravessa fronteiras invisíveis — de classe, de linguagem, de gosto.
Pierre Bourdieu chamaria isso de violência simbólica: o desconforto de perceber que aquilo que se apresenta como “universal” — a arte, a cultura, o belo — é, na verdade, o espelho polido de uma classe que pode se dar ao luxo de contemplar. A burguesia cultural não apenas consome cultura; ela a transforma em marca de distinção, em senha de pertencimento.
Mas Louis, ao se emocionar diante da orquestra, não reivindicava lugar algum. Ele apenas olhava. E nesse olhar — tenso, grato, desconcertado — havia uma pergunta que atravessa muito mais que a sociologia: O que é que nos faz romper as lentes que herdamos? Ver o mundo nunca é um gesto inocente. Cada olhar é moldado por camadas de linguagem, por trajetórias, por contextos que nos precedem. O meio em que crescemos oferece não apenas referências, mas formas de perceber — e, às vezes, de não perceber.
Como escrevi em outro momento, “we don’t see the world — we see through ourselves”. Mas talvez seja preciso acrescentar: também vemos através do nosso mundo — das estruturas que nos moldam, das bolhas que nos embalam, das fronteiras que nos ensinam a não atravessar.
Há quem nunca perceba que a paisagem à frente é turva; há quem viva toda uma vida acreditando que o mundo é naturalmente assim — limitado, opaco, previsível. Outros, porém, tropeçam em uma nota musical, em uma leitura, em um encontro — e de repente, algo se desloca.
Ver o que não se via é um choque. Um gesto pequeno, mas radical. E talvez seja a partir dele que toda transformação começa.
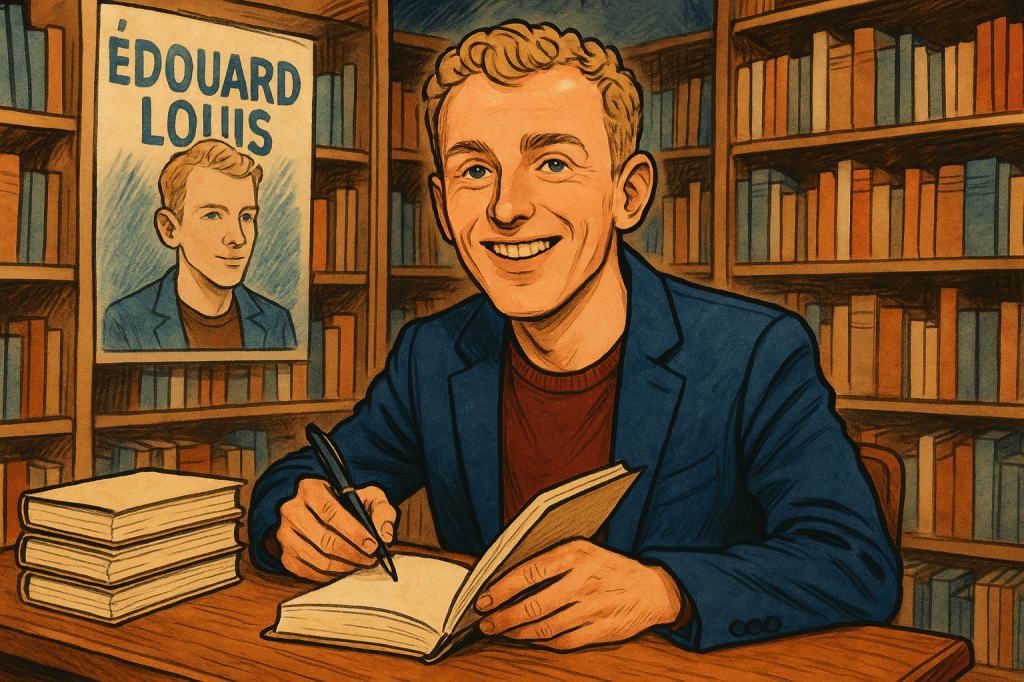
As lentes herdadas — Bourdieu e o olhar social
Pierre Bourdieu talvez dissesse que ninguém enxerga o mundo de olhos completamente abertos. Vemos através de lentes sociais, moldadas por aquilo que herdamos — hábitos, gostos, vocabulário, medos, sonhos possíveis e impossíveis. Chamou isso de habitus: uma espécie de coreografia invisível que nos faz agir, desejar e até sentir dentro dos limites do que nos foi permitido imaginar.
É um olhar que não se aprende, exatamente — se absorve. No tom da voz da mãe, no modo como o pai reage a uma notícia, nos silêncios da casa, na escola que frequentamos, no bairro que habita o corpo antes mesmo de sabermos andar pelas próprias ruas. O habitus é o que resta depois de todo aprendizado: é o aprendizado do que parecia natural.
Édouard Louis cresceu em um desses mundos onde o horizonte é estreito não porque falta céu, mas porque falta linguagem para nomear o que há além. Ele conta, em O fim de Eddy, que tudo em volta — os gestos, as risadas, os insultos — parecia já ter sido escrito antes de sua chegada. Ser diferente era um erro gramatical na sintaxe de uma vila que só sabia conjugar a dureza.
Mas o olhar, às vezes, escapa. Uma palavra nova, um livro esquecido, uma professora que enxerga o que os outros zombam — e o habitus trinca. A rachadura pode doer, mas é por ela que entra o ar.
Talvez seja isso o que Louis sentiu na orquestra: a vertigem de perceber que existe um outro mundo — e que, ao vê-lo, já não se pode fingir que não se viu.
Porque ver é, de algum modo, trair o lugar de onde se veio. E no entanto, é também uma forma de amor — o desejo de que aquele mundo que ficou para trás também possa, um dia, ver.
A burguesia cultural, nesse sentido, não é apenas uma classe social; é uma fronteira sensorial. Quem nasce dentro dela aprende cedo a ver a arte como extensão da vida. Quem nasce fora, precisa lutar contra o peso simbólico de acreditar que aquilo “não é para si”. Como se o olhar tivesse dono.
Bourdieu mostrou que a escola, a cultura e até o gosto funcionam como dispositivos de exclusão travestidos de mérito. Mas ele também nos deu, sem dizê-lo diretamente, uma chave de esperança: se o olhar é construído, ele também pode ser reconstruído.
Ver, nesse sentido, é um ato político. E aprender a ver de novo — a maior das desobediências.
Sloterdijk e as bolhas: viver dentro de esferas de sentido
Peter Sloterdijk não fala exatamente de muros, mas de bolhas. Bolhas transparentes, maleáveis, invisíveis — e, talvez por isso, tão difíceis de perceber. Elas não se erguem do lado de fora: crescem junto com a própria vida. São feitas de crenças, afetos, rituais, palavras, cheiros, sotaques, silêncios. Cada um de nós habita uma delas, uma esfera de sentido onde o mundo parece fazer sentido — até que, um dia, não faz mais.
Para Sloterdijk, o ser humano não é um ser isolado, mas um ser-esférico:
vive em pequenos universos de significado, em microclimas emocionais onde respira o ar simbólico que o mantém vivo. Essas bolhas não são prisões; são habitats psíquicos. Mas, como todo ambiente, elas podem se tornar tóxicas quando o ar não circula.
A infância, a escola, a família — cada uma dessas esferas nos ensina um modo particular de ver, sentir e reagir. E por mais que pareçam frágeis, elas resistem. Mesmo quando nos afastamos geograficamente, o ar das antigas bolhas continua preso aos pulmões: o sotaque do afeto, o medo da vergonha, o desejo de ser reconhecido pelos olhos de quem já não nos vê.
Édouard Louis atravessou muitas dessas bolhas. Saiu da aldeia operária e entrou no mundo intelectual de Paris — outra atmosfera, com outro oxigênio simbólico. Mas a travessia não o libertou completamente; apenas o tornou consciente da diferença de ar. Entre a orquestra e o bar da infância, há não só uma distância social, mas uma diferença respiratória.
E talvez seja isso que Sloterdijk nos convida a pensar: não vivemos no mundo, mas em versões do mundo. Cada bolha cria seu próprio horizonte, sua gramática emocional, seu léxico do possível. Furar a bolha não é apenas mudar de lugar — é reaprender a respirar.
Há quem o faça por acaso — um livro que desorganiza, um amor que desloca, uma perda que obriga a olhar de outro modo. Outros o fazem por escolha, ainda que dolorosa: romper com o ar de origem para não morrer asfixiado na repetição.
E, no entanto, há algo de terno nas bolhas também. Elas são o lugar do pertencimento, o espaço de onde nascem as primeiras palavras e as primeiras cegueiras. Não se sai delas impunemente. Toda travessia traz um pouco de culpa — a culpa de quem enxerga o que antes era invisível.
Sloterdijk nos lembra que a modernidade não é a era do isolamento, mas da proliferação de esferas: redes, grupos, estilos de vida, ideologias, timelines — cada qual respirando seu próprio ar. Talvez por isso o mundo esteja tão cheio de gente que fala alto e escuta pouco: o som se perde na espessura da bolha.
Mas se, como escrevi em outro momento, “clarity isn’t romantic — it’s a slow reeducation in looking at what’s been there all along”, talvez possamos dizer também que ver o outro é o primeiro passo para estourar a bolha. Não basta ver o que há dentro; é preciso ter fôlego para olhar para fora.
Morin e a educação como travessia
Edgar Morin diz que educar é ensinar a viver. Mas, antes de viver, é preciso aprender a ver. E ver, no sentido que ele propõe, não é apenas olhar — é compreender, conectar, reconhecer o invisível nos interstícios do visível.
A educação, para Morin, não é a soma de saberes, mas uma travessia entre eles.
Outro dia, eu estava no teatro para assistir a uma apresentação do Balé da Cidade de São Paulo. Luzes baixas, murmúrios elegantes, o público ajustando cachecóis e expectativas. Ao meu lado, um casal bem vestido — daqueles que parecem saber de antemão o momento exato de aplaudir. Mas bastou a primeira metade do primeiro ato para que a mulher, sentada ao meu lado, cochilasse.
No intervalo, ela se espreguiçou e me perguntou, com um certo ar de impaciência:
— “É só isso mesmo? Eu nunca tinha vindo ver balé…”
E antes que eu respondesse, completou:
— “Achei que fosse diferente. Vou embora, não vou esperar o segundo ato.”
Ela se levantou, ajeitou a bolsa com elegância e desapareceu no corredor — deixando atrás de si o perfume caro e a estranha sensação de que, às vezes, o ingresso é caro, mas o olhar é pobre.
Hoje, quando lembro dessa cena, me pergunto: por que ela estava ali? Para ver o espetáculo — ou para poder dizer que esteve no teatro?
A cena é quase uma parábola bourdiesiana: o corpo presente, o olhar ausente. A cultura como distinção, não como experiência. Um capital simbólico exibido como troféu, e não vivido como travessia.
Morin diria que falta ali complexidade: a capacidade de relacionar o que se vê com o que se sente, de transformar o consumo em contemplação, a presença em percepção. Ver é um ato de pensamento, mas também de entrega. Sem isso, o mundo passa diante dos olhos como uma sequência de belas imagens sem ligação — e o sujeito, mesmo rodeado de cultura, permanece analfabeto de sentidos.
Por isso Morin insiste: é preciso educar o olhar. Não apenas treinar a mente, mas sensibilizar a percepção — cultivar a curiosidade, o espanto, a dúvida.
Incluir a arte, a filosofia, a poesia como modos de pensar e não como entretenimento de elite. Porque a arte, quando realmente nos toca, não enfeita a vida: ela a desestabiliza.
Ver mais exige suportar o desconforto do que antes se ignorava. A mulher ao meu lado não suportou o segundo ato — talvez porque o primeiro já havia mostrado demais.
Educar o olhar é justamente isso: suportar o que não se entende de imediato, o que não se enquadra, o que não rende selfie. É compreender que o aprendizado não acontece quando tudo faz sentido, mas quando algo nos desloca.
Morin chama isso de “pensamento complexo”. Eu chamaria de visão em movimento — um olhar que não se contenta com a superfície das coisas, que atravessa o nevoeiro sem o desejo de dominá-lo. Ver, afinal, é também aprender a permanecer diante do que nos escapa.
Romper o círculo — a força de uma visão corajosa
Édouard Louis não rompeu apenas com o lugar onde nasceu. Rompendo, rompeu também com a versão do mundo que o lugar lhe oferecia. Não se tratava apenas de mudar de cidade, mas de mudar de ar — de aprender a respirar em outro clima simbólico, com outras palavras, outros silêncios, outros códigos. Cada passo seu parecia dizer: “o mundo não é só isso”.
Mas ver o mundo com novos olhos é uma forma de exílio. Aquele que enxerga demais deixa de pertencer inteiramente a qualquer lugar. Entre a aldeia e a metrópole, entre o gesto rude e a fala culta, entre a vergonha e o desejo de ascensão, Louis se tornou um estrangeiro de dois mundos — alguém condenado a ver.
Ver é perigoso. Porque ver transforma. E quem se transforma ameaça o equilíbrio dos que continuam confortáveis na penumbra. É por isso que o olhar crítico, o olhar sensível, o olhar que pensa — incomoda. Ele ilumina o que muitos preferem deixar embaçado.
Como escrevi em outro momento, “we don’t see the world — we see through ourselves”. Mas há algo mais: às vezes, ver através de si é justamente o primeiro passo para ver além de si. O olhar que se volta para dentro — na análise, na arte, na escuta — acaba abrindo rachaduras na bolha social que nos moldou.
Romper o círculo, portanto, não é só um ato individual. É um gesto político e poético: dizer não ao destino, e sim ao desconhecido. É como se o sujeito dissesse ao seu meio — “eu saio, mas levo vocês comigo” —, porque ver mais implica também carregar o peso do que os outros não puderam ver.
A coragem de ver é, no fundo, uma forma de amor. Amor pelo real, mesmo quando ele fere. Amor pelo outro, mesmo quando ele não entende. Amor pelo pensamento, mesmo quando ele desorganiza.
Sloterdijk falaria aqui de ruptura de esferas; Morin, de metamorfose; Bourdieu, de deslocamento simbólico; eu, talvez, de uma simples mudança de lente. Mas o que há em comum em todos esses nomes é o mesmo gesto: o de olhar de novo, e continuar olhando mesmo quando dói.
Porque toda transformação começa com um incômodo — com o instante em que algo não se encaixa mais, em que o olhar já não cabe no velho enquadramento. Romper o círculo é aceitar o risco de ver demais — e o privilégio de jamais voltar à cegueira confortável de antes.

Conclusão: sobre a coragem de ver
Ver é uma forma de atravessar. E toda travessia implica deixar algo para trás — uma linguagem, um sotaque, um olhar antigo que já não serve. Talvez por isso, como Édouard Louis, muitos sintam culpa ao ver demais: porque a nitidez cobra caro. Quem enxerga o que antes era invisível já não pode fingir que não viu.
Mas o olhar, quando amadurece, deixa de ser julgamento e se torna testemunho. Não é mais o ver do controle — é o ver da presença. Ver o outro não para corrigir, mas para compreender; ver o mundo não para dominá-lo, mas para habitá-lo com consciência e delicadeza.
Bourdieu nos ensinou que o olhar é social; Sloterdijk, que ele se forma dentro de esferas; Morin, que educar o olhar é cuidar da complexidade da vida. E talvez o gesto de Édouard Louis, emocionado diante da orquestra, resuma tudo isso: ver não é um privilégio, é um ato de coragem — um rompimento silencioso com a ignorância que conforta.
Talvez essa seja a mais profunda das lições: ver é um processo, não uma conquista. Não há diploma para o olhar, apenas tentativas — algumas ternas, outras dolorosas.
A mulher que deixou o teatro antes do segundo ato talvez não estivesse pronta para a vertigem de ver. Mas quem fica — quem permanece na penumbra entre um ato e outro — sabe que algo se transforma ali. Porque o olhar, quando se abre, nunca volta ao seu tamanho anterior.
Ver o mundo, portanto, é um gesto político, mas também poético. É afirmar que nenhuma classe, nenhum saber, nenhuma bolha tem o monopólio da sensibilidade. É admitir que a cultura não é um ornamento — é uma forma de respiração. E que a arte, a educação e o pensamento servem, no fundo, para isso: ensinar o coração a enxergar.
Então talvez seja simples assim: romper o círculo, limpar as lentes, permanecer desperto. Ver o mundo não para entendê-lo por completo —
mas para continuar se surpreendendo com o que ele ainda insiste em mostrar.
Referências
- Bourdieu, P. (1979). La distinction: critique sociale du jugement. Paris: Éditions de Minuit.
- Sloterdijk, P. (1998). Sphären I: Blasen. Frankfurt: Suhrkamp.
- Morin, E. (2014). Ensinar a viver: manifesto para mudar a educação. Lisboa: Instituto Piaget.
- Louis, É. (2014). En finir avec Eddy Bellegueule. Paris: Seuil.
- Roda Viva – Édouard Louis. (21 de outubro de 2024). TV Cultura. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wn7RxTuQc4U
- Podcast “Les Couilles sur la table” – Épisode: “Édouard Louis: L’arrivée en bourgeoisie.” Binge Audio / Spotify. Disponível em: https://open.spotify.com/episode/2qkDYcazZbjia9plBbbpoI?si=36266ee38b4c41fb
- Nunes, R. (julho, 2025). You might be blinder than you think


Deixe um comentário