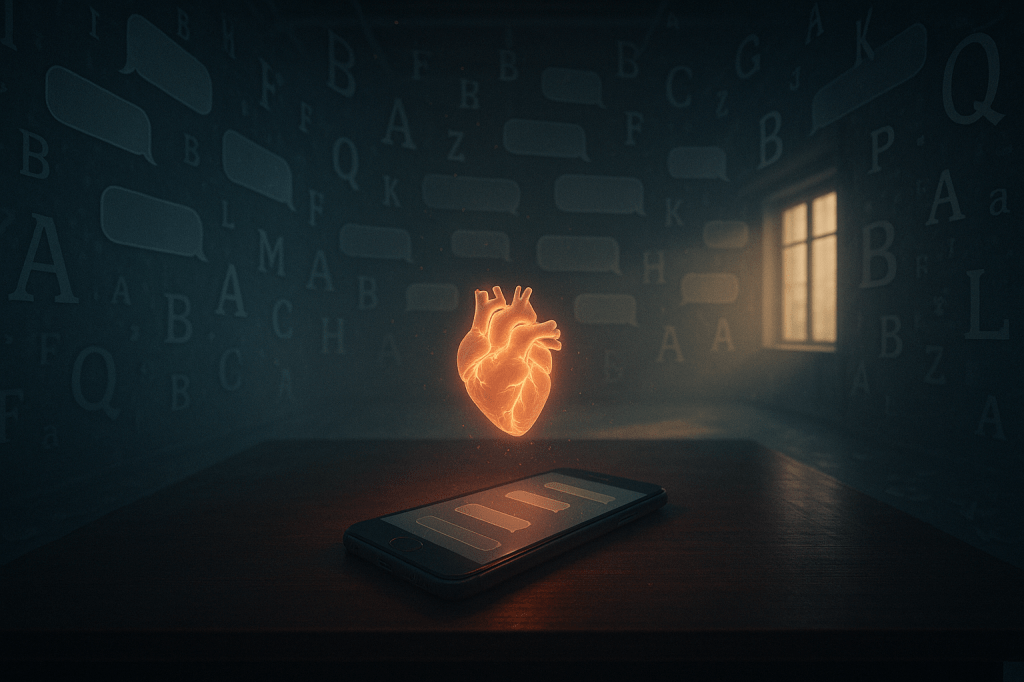
Toda manhã começa com um ritual. Alguns abrem a janela para deixar entrar a luz. Outros abrem o celular. Ali, entre o silêncio da noite e o barulho do dia, alguém desliza o dedo por dezenas de mensagens: cobranças, links, emojis, lembretes. Nenhum “olá”. Nenhum “bom dia”. É como se as palavras tivessem desaprendido a delicadeza, como se nossas línguas agora falassem apenas em imperativos. Já não cumprimentamos — apenas respondemos. E assim, antes mesmo que o dia comece, o mundo já parece uma lista de tarefas.
Talvez fosse isso que T. S. Eliot queria dizer ao afirmar que “o lar é o ponto de partida”. Mas o que acontece quando o lar dentro de nós — esse lugar de calor, de pequenas gentilezas que tecem o pertencimento — começa a se apagar? Quanto mais crescemos, escreveu Eliot, mais estranho o mundo se torna. Talvez não seja o mundo que se estranha, mas nós que esquecemos como habitar nele. Tornamo-nos andarilhos eficientes, viajantes de tarefas, sem raiz até nos próprios gestos.
Houve um tempo em que a vida humana se sustentava nos lentos rituais da presença. Alguém batia à porta e esperava. Alguém escrevia uma carta e imaginava o outro lendo dias depois. Hoje tudo é instantâneo, mas raramente íntimo. A tecnologia, que prometia nos aproximar, fez de nós especialistas em nos evitar. Caminhamos por corredores digitais sem dizer “com licença”. Nossas palavras já não chegam com perfume, apenas com sinal.
Adorno perguntou certa vez o que significa “elaborar o passado”. Sua preocupação era histórica, mas talvez a pergunta pertença também ao nosso tempo. Elaborar o passado é encarar aquilo que preferiríamos esquecer. Mas nossa era prefere o botão “deletar”. Limpamos conversas como limpamos a memória — apagando a desordem que nos faz humanos. A cordialidade, essa pequena chama do encontro, virou incômodo. Em nome da produtividade, amputamos a ternura.
Dizemos a nós mesmos que estamos ocupados demais para cumprimentar, concentrados demais para escutar, modernos demais para sermos gentis. Mas por trás dessa disciplina do distanciamento esconde-se algo mais sombrio: o medo da presença do outro. Dizer “bom dia” é reconhecer que há alguém além de nós. Cumprimentar é abrir uma janela — e janelas também deixam entrar o vento. Talvez evitemos as pequenas cortesias porque elas exigem algo assustador: a nossa humanidade.
Nilton Bonder conta a história de um homem que, cansado de perder suas roupas, anotou antes de dormir onde colocava cada peça. Pela manhã, encontrou tudo — o chapéu, as calças, os sapatos —, mas não se encontrou. Somos nós, rolando as mensagens da manhã: localizamos cada item da lista, mas perdemos aquele que procura. Tornamo-nos organizados demais para nos reconhecer.
Bonder lembra que a alma desperta pelo horror — o espanto de ver o que nos tornamos. Talvez devêssemos nos horrorizar não apenas com a crueldade, mas com a indiferença. O horror é mestre; a anestesia, túmulo. Cada vez que respondemos sem ver, cada vez que lemos sem ler, ensaiamos uma pequena extinção. Tornamo-nos fluentes na linguagem dos insensíveis.
Adorno temia que a barbárie sobrevivesse dentro da civilização, disfarçada de civilidade. Hoje, a barbárie veste o traje da eficiência. Cumprimenta-nos com sorrisos corporativos, modos algorítmicos e indiferença polida. A crueldade do nosso tempo não é ruidosa — é perfeita. É o silêncio entre o “visualizado” e o “respondido”. É a mensagem sem alma, a conversa que nunca aconteceu.
Mas ainda existe uma pequena rebeldia possível. Ela começa, paradoxalmente, pela lentidão. Cumprimentar é suspender o tempo. Olhar alguém nos olhos — mesmo através de uma tela — e dizer “eu te vejo” é um ato radical. Edgar Morin nos lembra que a educação precisa ensinar não apenas a conhecer, mas a viver; não apenas a pensar, mas a sentir. Ensinar gentileza, beleza, curiosidade e convivência não é nostalgia — é sobrevivência. O futuro não será construído por quem programa mais rápido, mas por quem ainda lembra como tocar sem tocar.
A tecnologia não é o inimigo; o esquecimento é. As máquinas imitam inteligência, mas não calor. O problema não é falarmos por telas, e sim pararmos de escutar através delas. A cordialidade não é luxo — é uma forma de pensamento, uma maneira de habitar a complexidade sem cair no cinismo. Dizer “bom dia” é afirmar que o dia ainda existe.
Talvez nunca voltemos à inocência pré-digital, nem devamos. Mas podemos escolher colocar alma no código — digitar com o coração, enviar mensagens com atenção, responder como se cada palavra fosse um pequeno presente. Num mundo que valoriza reações instantâneas, a delicadeza é uma forma de resistência.
Eliot disse que a vida arde em cada momento, não como chamas isoladas, mas como um fogo que se lembra do seu início. Talvez a cordialidade seja esse início — um lar que carregamos na voz, uma porta que se abre mesmo no silêncio. Então, amanhã, antes de abrir o celular, respire. Lembre-se do homem que achou o chapéu, mas não a si mesmo. Lembre-se do alerta de Adorno: o esquecimento é um perigo disfarçado de paz. Lembre-se do chamado de Bonder: despertar pelo horror. E então, simplesmente, diga “bom dia”.
Porque cada vez que fazemos isso, algo humano volta do exílio.
Referências
- Adorno, Theodor W. Educação e Emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2022.
- Bonder, Nilton. A Alma Imoral. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
- Eliot, T. S. Four Quartets.
- Morin, Edgar. Ensinar a Viver: Manifesto para mudar a educação. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015.


Deixe um comentário