Assisti à série Tremembé na noite seguinte ao seu lançamento, num fim de semana em que o silêncio da casa parecia pedir companhia. O que encontrei, porém, não foi exatamente companhia — foi uma sucessão de perguntas que não me deixaram dormir. Enquanto as imagens se alternavam entre celas, interpretações quase reais e reconstruções de cenas absurdas, uma sensação incômoda foi crescendo: o que exatamente me fazia continuar olhando? Era curiosidade, indignação, fascínio ou medo?
Nos dias seguintes, não foram apenas as cenas que me perseguiram, mas o eco que elas provocaram. As redes sociais se encheram de comentários, teorias, julgamentos, defesas e ataques. Era como se o país inteiro houvesse se transformado em júri popular — e, paradoxalmente, em plateia. Percebi então que não era só sobre aquela história, mas sobre o que ela despertava em nós: uma necessidade quase ritual de revisitar a dor, de entender o mal, de assistir à punição — ou, talvez, de participar dela.
Havia algo ali que ultrapassava o entretenimento. Uma espécie de pulsão coletiva que se acende diante do horror, como se o abismo tivesse sempre um magnetismo próprio. E me perguntei — sem esperar resposta: por que os crimes nos atraem tanto? O que procuramos ao encarar a violência travestida de narrativa? Justiça, consolo, domínio sobre o inominável — ou apenas um reflexo, distorcido e perigoso, de nós mesmos?
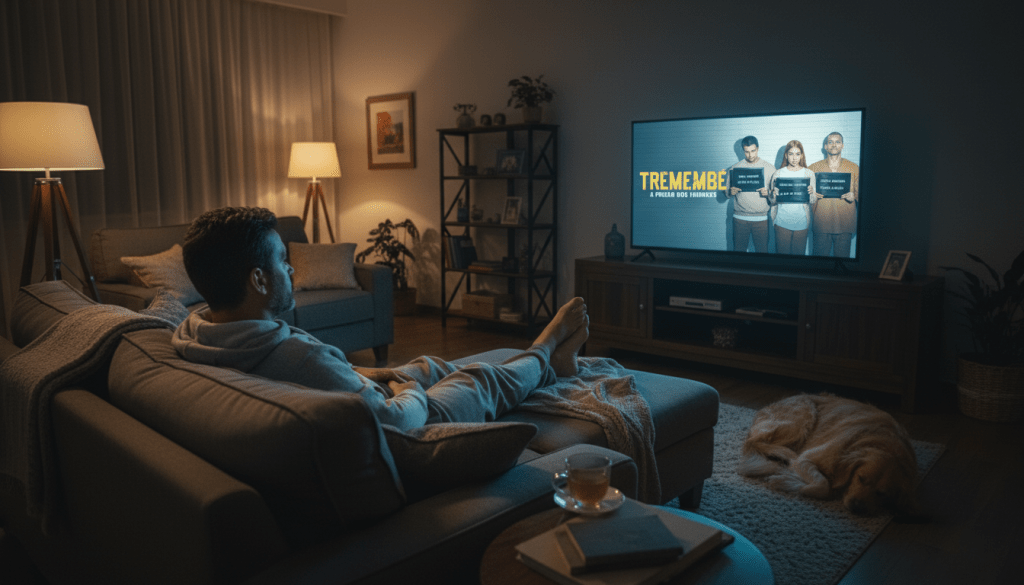
O fascínio pelo abismo — uma herança humana
Talvez não seja de hoje esse impulso que nos faz olhar para o horror. Desde as primeiras civilizações, a humanidade se reúne em torno da dor como se ela guardasse algum segredo sobre o que somos. As praças públicas — onde outrora se queimavam bruxas, se enforcavam ladrões ou se exibiam cabeças — eram, paradoxalmente, lugares de festa. Havia música, aplausos, vendedores ambulantes. A punição se transformava em espetáculo, e o sofrimento, em lição moral.
Michel Foucault, em Vigiar e Punir, descreveu esses rituais como “teatros da crueldade”: espaços em que o poder se encenava, e o corpo do condenado se tornava o palco sobre o qual a ordem social reafirmava sua força. O horror, assim, não era gratuito — era pedagógico. Mas o que começou como demonstração de poder foi, aos poucos, tornando-se uma forma de prazer. A multidão não apenas aprendia: ela se emocionava.
A antropologia também nos lembra que olhar a morte é, em certo sentido, um modo de tentar dominá-la. O sacrifício — humano ou simbólico — sempre teve essa função: converter o caos em sentido. René Girard, em sua teoria do bode expiatório, diz que as sociedades canalizam sua violência sobre um corpo escolhido, para restaurar uma harmonia perdida. O espetáculo da punição seria, então, uma catarse coletiva: expurgar o mal para sentir-se purificado.
Mas se antes a praça reunia os corpos, hoje é a tela que nos reúne. Mudaram as ferramentas, não os instintos. A fogueira foi substituída pelo streaming, e o cadafalso pelo algoritmo. Continuamos a assistir, fascinados, às narrativas que nos devolvem a experiência da violência — agora higienizada, editada, narrada em voz grave e trilha sonora minimalista. Ainda buscamos o mesmo: a emoção de ver o mal contido dentro de uma moldura segura, como quem acende uma vela diante do abismo.
Há, talvez, um traço de sobrevivência nesse olhar. Ao observar o horror, certificamo-nos de que ainda estamos vivos, ainda inteiros, ainda do lado de fora da história. Mas o fascínio tem um preço: cada vez que o mal é transformado em espetáculo, um pedaço da dor deixa de pertencer a quem a viveu — e passa a ser propriedade pública, conteúdo, consumo.
Crime e espetáculo — o olhar da sociologia
A sociedade aprendeu a transformar tudo em narrativa — até mesmo a dor. Guy Debord já advertia, em A sociedade do espetáculo, que o real foi substituído por sua representação: vivemos não os acontecimentos, mas as imagens dos acontecimentos. O crime, ao entrar nesse circuito, deixa de ser apenas um fato e passa a ser um produto cultural. Sua função deixa de ser moral ou judicial e torna-se estética: emocionar, prender, entreter.
Edgar Morin, ainda nos anos 1960, chamou atenção para isso ao escrever O espírito do tempo: uma nova mitologia estava nascendo — a mitologia do cotidiano, em que heróis e criminosos dividem o mesmo palco midiático. A tragédia moderna não se passa mais em Tebas, mas no horário nobre. E a catarse se dá diante da tela, não do oráculo.
A sociologia da mídia mostra que o crime midiático precisa de certos ingredientes para “funcionar”: uma vítima idealizada, um autor que rompa expectativas, uma história de amor ou de família que se torça em violência. Stanley Cohen, em sua teoria do pânico moral, mostrou como a mídia cria ondas de comoção que vão muito além do fato em si: ela fabrica demônios populares — figuras que concentram o mal, para que o resto de nós se sinta purificado. Em um dos documentários que reconstituíam um julgamento transmitido ao vivo, lembro-me de uma cena emblemática: ao ser entrevistada, uma mulher que aguardava do lado de fora do fórum declarou, com voz emocionada — “estou de alma lavada.”
E quanto mais o crime se repete nas manchetes, mais se instala a ilusão de que o mundo está pior — o que George Gerbner chamou de síndrome do mundo mau: quanto mais se vê a violência, mais se acredita viver dentro dela.
Mas há algo de ainda mais complexo. A chamada criminologia cultural (Ferrell, Greer, Presdee) propõe que o crime contemporâneo é uma performance, e sua cobertura midiática, uma coreografia social. O espectador não é apenas consumidor, é cúmplice: julga, comenta, compartilha, alimenta o circuito simbólico do castigo. Chris Greer e David Garland falam dessa zona híbrida em que justiça e espetáculo se confundem — a punição vira show, a empatia vira engajamento, e a dor alheia, audiência.
O crime, nesse sentido, torna-se espelho da própria sociedade: refletimos no assassino o que desejamos repudiar, mas também o que não ousamos reconhecer. E talvez seja por isso que as séries, documentários e podcasts de true crime façam tanto sucesso — eles organizam o caos, oferecem sentido, distribuem culpas, nomeiam o indizível. A sociologia diria: é um modo de reconstruir a ordem simbólica em meio ao medo. Mas talvez haja, também, um alívio perverso — ver o horror domesticado pela montagem, editado, sonorizado. Ver o mal de perto, mas com a garantia do pause.
No fundo, toda sociedade cria suas tragédias para reafirmar sua inocência. Mas quando a tragédia vira mercadoria, corremos o risco de esquecer que, do outro lado da tela, há quem ainda esteja tentando dormir.
A psicanálise do olhar — entre o medo e o gozo
Há algo de inquietante no fato de que olhamos o horror, mesmo quando sabemos que ele nos fere. Freud dizia que o ser humano é movido não apenas pela busca do prazer, mas também por uma força contrária, uma pulsão silenciosa que o conduz de volta ao inorgânico — a pulsão de morte. Entre Eros e Tânatos, o olhar é um campo de batalha: ao assistir ao sofrimento, experimentamos, por um instante, o contato com aquilo que tentamos negar — a finitude, o desamparo, a violência que nos habita. E, paradoxalmente, há prazer em suportar essa vertigem, como quem toca o fogo apenas para sentir que ainda tem mãos.
Ao observar um crime narrado em série ou documentário, não buscamos apenas compreender o mal; buscamos, sem saber, tocá-lo. A cada reconstituição, a cada detalhe revelado, há uma satisfação obscura — não de ver o outro sofrer, mas de ver o sofrimento contido dentro de uma moldura. O horror domesticado. Freud chamaria isso de repetição: a tentativa de dominar simbolicamente o trauma, revivendo-o sob condições seguras. Assim, o espectador revê a dor — mas desta vez, sem ser ele quem sangra.
Julia Kristeva, em Poderes do horror, escreveu que o abjeto é tudo aquilo que ameaça as fronteiras do eu: o sangue, o corpo morto, o resto, o inominável. Sentimos repulsa — e, ao mesmo tempo, atração. O abjeto nos lembra o que somos feitos, o que podemos ser, o que tentamos excluir da ordem do belo e do puro. Ao olhar o crime, tocamos essa zona-limite entre o humano e o desumano, entre a vida e sua decomposição. É por isso que não conseguimos simplesmente desviar o olhar — o horror fala a uma parte arcaica, pré-verbal, que deseja compreender o caos por meio da imagem.
Freud dizia que o que é reprimido retorna disfarçado. O espetáculo do crime talvez seja esse retorno mascarado do real traumático: o que a civilização reprimiu volta em forma de narrativa, de ficção, de notícia. E cada espectador se vê, sem saber, no mesmo lugar do analisando diante do inconsciente — tentando traduzir, interpretar, dar nome ao que não cabe na linguagem. Assistir ao mal é, nesse sentido, uma forma de elaboração primitiva: o sujeito busca no horror do outro uma via para apaziguar o próprio.
Mas há uma diferença essencial entre elaborar e consumir. Na elaboração, o olhar é interrogante, silencioso, ético. No consumo, o olhar é voraz — quer mais detalhes, mais versões, mais dor. Kristeva talvez dissesse que, na cultura do espetáculo, o abjeto perdeu sua função simbólica: não purifica mais, apenas excita. E o perigo é que, ao transformar o mal em imagem repetida, percamos também nossa capacidade de espanto.

Entre o respeito e o consumo — a ética do espectador
Talvez o problema não esteja em olhar, mas em como olhamos. O olhar pode ferir — ou pode cuidar. Há quem veja para julgar, há quem veja para entender, e há quem veja apenas para lembrar que o mundo continua vivo, mesmo quando a vida parece doer. Mas entre a compaixão e o consumo há uma linha tênue, quase invisível — o instante em que o sofrimento deixa de ser humano e se torna conteúdo.
O verdadeiro gesto ético talvez seja o de olhar com amor, mesmo quando o amor nada resolve. Amor aqui não é romantismo, mas um modo de presença: reconhecer que há alguém do outro lado da tela, alguém que perdeu mais do que pode contar. O mínimo que podemos devolver a essas histórias é silêncio — o silêncio que respeita, que não transforma a dor em distração, que não confunde empatia com entretenimento.
Há famílias que ainda acordam no meio da noite com o peso do que foi. Há crianças que cresceram com a ausência como herança. E nós, espectadores, ficamos entre o desejo de saber e o dever de calar. Talvez a maturidade de uma sociedade se meça pela delicadeza com que ela trata o sofrimento dos seus.
Freud dizia que civilizar-se é aprender a renunciar — talvez também a renunciar ao espetáculo. E Kristeva lembraria que, no contato com o abjeto, é possível nascer um novo olhar — um olhar que purifica, não porque esquece, mas porque se recusa a transformar o mal em mercadoria.
Eu, que comecei essa série em busca de compreensão, termino com outra vontade: a de guardar o silêncio. De lembrar que cada história trágica é também um pedido de cuidado. Que entre a dor e o espetáculo ainda há um espaço para o humano. E que talvez o nosso papel — diante do horror e da vida — seja o de manter acesa a esperança discreta de que o amor, ainda que frágil, pode ser um modo de resistência. Porque respeitar é a forma mais profunda de amar. E amar, talvez, seja o único modo de não repetir a violência do olhar.
Referências
- Cohen, S. (1972). Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers.
- Debord, G. (1967). La société du spectacle.
- Egito, V. (dir.). Tremembé — série documental lançada em 31 de outubro de 2025, Amazon Prime Video, 1ª temporada (5 episódios).
Disponível em: Prime Video - Ferrell, J., Hayward, K., & Young, J. (2008). Cultural Criminology: An Invitation.
- Foucault, M. (1975). Surveiller et punir: Naissance de la prison.
- Freud, S. (1920). Além do princípio do prazer.
- Girard, R. (1972). La violence et le sacré.
- Greer, C., & Reiner, R. (2012). Mediated Mayhem: Media, Crime, and Criminal Justice. In M. Maguire, R. Morgan & R. Reiner (Eds.), The Oxford Handbook of Criminology.
- Kristeva, J. (1980). Pouvoirs de l’horreur: Essai sur l’abjection.
- Morin, E. (1962). L’esprit du temps: Essai sur la culture de masse.
- Presdee, M. (2000). Cultural Criminology and the Carnival of Crime.


Deixe um comentário