Tenho percebido, em diferentes contextos — atendimentos, aulas, conversas rápidas no corredor, trocas informais entre colegas — um mesmo dado se repetindo: para 2026, diversas empresas estão ajustando suas políticas internas para ampliar a presença física no escritório. Não se trata de um retorno dramático ao presencial absoluto, mas de uma mudança gradual e consistente: onde antes dois dias bastavam, agora se exigem quatro; onde havia espaço para negociar escalas, surgem calendários rígidos; onde a flexibilidade parecia consolidada, reinstala-se um discurso de disciplina e alinhamento. A tendência, ao que tudo indica, aponta para semanas mais longas no escritório e menos tempo de trabalho remoto.
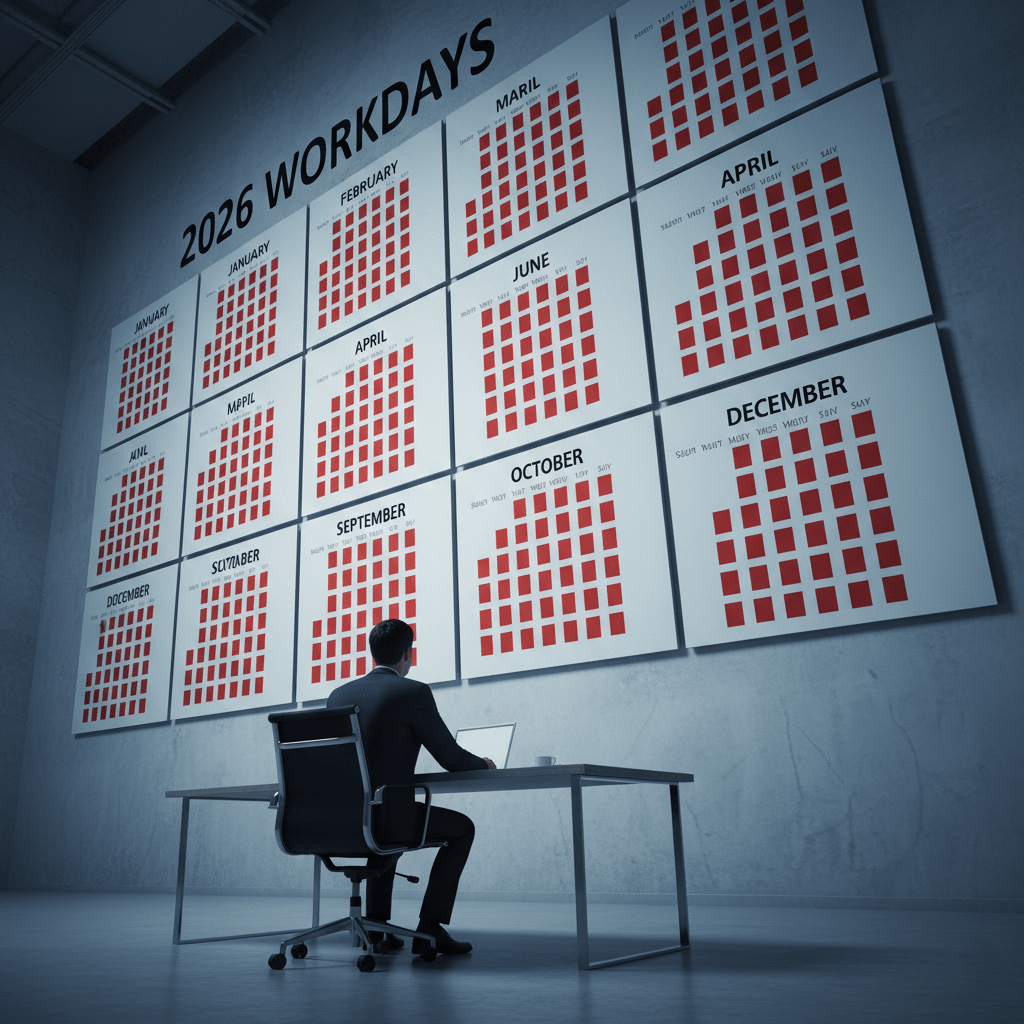
E tenho pensado muito sobre o que significa essa tendência, essa convocação silenciosa para ocupar a cadeira física com mais frequência. Porque não se trata apenas de reorganização logística; é como se o mundo corporativo estivesse tentando reencantar um velho ritual — e, ao mesmo tempo, reafirmar sua autoridade sobre ele.
Há algo inquietante nisso: a forma como nos habituamos ao pequeno espaço de liberdade que existia entre um dia presencial e outro. O intervalo de respiro, o “dia em casa” que muitos tratavam como um micro-oásis no meio do deserto de agendas. A sensação de que, ao menos em parte, o tempo era manejável, moldável, uma matéria que podíamos girar entre os dedos. Agora, com o aumento dos dias no escritório, esse intervalo se estreita, quase desaparece — e, com ele, a possibilidade de respirar sem ser observado.
Penso em como aceitamos facilmente ritmos que não escolhemos. Como o corpo se ajusta ao calendário de outro, à cadência da empresa, ao compasso acelerado das demandas. De repente, aquilo que parecia conquista — um dia remoto, uma tarde mais silenciosa, o direito de trabalhar sem o barulho do mundo — se transforma em concessão. E concessões, sabemos, são retiradas com a mesma facilidade com que foram dadas.
E nesse movimento de pedir mais presença, há um subtexto que me incomoda. Fala-se em cultura, em integração, em pertencimento, em “sentir a energia da equipe”, mas quase nunca se diz o que está realmente em jogo: controle. Não o controle declarado, mas aquele sutil, impregnado de vigilância disfarçada de entusiasmo. Como se a empresa precisasse do corpo presente para garantir que nenhum fio escapou, que nada se perdeu, que a ordem interna continua funcionando segundo a lógica desejada.
É curioso: quanto mais dias presenciais se exigem, mais evidente se torna o medo de perder poder. Como se ver as pessoas fosse uma forma de assegurar que elas continuam orbitando o centro institucional. Como se a presença física fosse uma prova de fidelidade.
Mas a vida — essa matéria indisciplinada — não se organiza por provas, mas por sentidos.
E talvez seja esse o ponto que mais me atravessa: como exigir mais dias de presença sem oferecer, em troca, presença de verdade? Como convocar corpos sem compreender as almas que os movem? Como justificar a ampliação do escritório se o escritório, em si, não se tornou um lugar para onde vale realmente a pena voltar?
Há quem não se importe com o retorno intensificado. Há quem até deseje a convivência, o encontro, a vibração do coletivo. Mas há também quem sinta que, ao aumentar os dias presenciais, algo precioso se perde: o silêncio, a autonomia, o pequeno espaço de respiração que equilibrava o peso das semanas. E essa perda não pode ser subestimada — porque é silenciosa, mas funda. É uma erosão interna que, somada ao tempo, cobra preços altos.
E penso que 2026 talvez não seja o ano da “volta ao presencial”, como se diz por aí, mas o ano em que teremos que renegociar o significado da palavra presença. Não basta estar — é preciso querer estar. Não basta ocupar o espaço — é preciso que o espaço tenha vida. Não basta aumentar os dias — é preciso aumentar o sentido.
No fundo, ninguém floresce sob coerção. Ninguém se engaja por decreto. Ninguém cria sob vigilância. E se o mundo corporativo deseja verdadeiramente a presença, terá de aprender o que isso significa no tempo das subjetividades cansadas: criar ambientes que respiram, relações que sustentam e ritmos que não destroem.
Talvez o desafio não seja convencer as pessoas a irem ao escritório quatro ou cinco dias por semana — mas construir um mundo em que tal retorno não pareça uma renúncia de si. E talvez, no fim, a pergunta seja apenas esta:
o que, exatamente, estamos sendo chamados a presentificar?
O trabalho?
A empresa?
Ou a nós mesmos — em um mundo que ainda não aprendeu a acolher a presença humana sem tentar dominá-la?


Deixe um comentário