Notas sobre feridas, fome e defesas do coração
Escrever sobre o amor é sempre arriscar um pouco de patetice. Nada parece mais gasto e, ao mesmo tempo, nada é tão resistente ao desgaste. A cada nova história, jura-se que agora “é diferente”, quando, por baixo das legendas e dos áudios de WhatsApp, reaparecem os mesmos dramas antigos: medo de se entregar, medo de ser rejeitado, medo de ser engolido, medo de não ser suficiente.
Vincent Estellon chama de psychopathologie du lien à la vie amoureuse ordinaire [psicopatologia do vínculo na vida amorosa comum] essa estranheza tão comum: amar e ser amado como experiência que, longe de ser naturalmente harmoniosa, expõe a ferida narcísica, a fragilidade sexual, o medo de desmoronar. Quase nada é “natural” na vida amorosa; quase tudo é aprendizado dolorido, improviso, defesa.
Sobretudo para muitos homens, o amor parece menos uma promessa e mais uma ameaça. A ameaça de perder controle, de falhar na cama, de não estar à altura do ideal que o próprio sujeito inventou. A ameaça de não saber o que fazer quando o outro não é só corpo disponível ou confirmação narcísica, mas presença viva, imprevisível, que olha de volta e, pior ainda, que pode ir embora.
No mito, Narciso se apaixona por uma imagem que não responde. E talvez seja essa a grande tentação humana: desejar um outro que, no fundo, ainda sou eu — meu brilho, meu reflexo, meu ideal domesticado. Mas, na vida real, o objeto de amor não é superfície lisa nem eco perfeito; é alteridade viva, opaca, imprevisível. E é exatamente aí que o amor começa a assustar: no instante em que o reflexo se transforma em outro e, diante dele, não temos mais controle.
Porque quando o amor chega, ele arranca o sujeito dessa posição infantil de onipotência em que eu me basto, eu me resolvo, eu dou conta sozinho. De repente, eu descubro que o humor do meu dia depende da mensagem que não chegou, da resposta que atrasou, da presença que falhou. Eu, que me imaginava autossuficiente, descubro-me vulnerável à qualidade da presença e da ausência de alguém.
O fiasco sexual, nesses casos, não é apenas um acidente da carne. Muitas vezes, é o sintoma de uma idealização grandiosa: o parceiro ou a parceira é tão elevado ao pedestal que a excitação, ao invés de acender, congela. O desejo curva-se diante do ideal. E o sujeito, ferido na sua sexualidade, passa a temer, mais do que o fracasso, o simples fato de se deixar afetar.
Estellon tem razão: amar e ser amado não é apenas doce; é profundamente perturbador. Não por acaso, muitos preferem organizar a vida em torno de algo mais previsível: a carreira, o corpo, o rendimento, a rotina… do que se arriscar a esse terremoto íntimo que é deixar alguém entrar.

Fome afetiva: apaixonar-se por qualquer gentileza
Do outro lado do espectro, há aqueles que não fogem do amor. Eles o caçam, o imploram, o criam onde ele não está. Pessoas tão solitárias, tão famintas, que confundem qualquer gesto de cuidado com uma grande história de amor em potencial. Um sorriso vira sinal; uma gentileza vira destino; um “se cuida” vira promessa.
Não se trata de ingenuidade boba, mas de uma carência antiga que nunca encontrou palavras. Freud diria que aí opera uma escolha de objeto anaclítica: amamos quem, de alguma forma, lembramos como tendo cuidado de nós, ou quem parece disponível para ocupar esse lugar. Winnicott talvez dissesse que faltou, lá atrás, um ambiente suficientemente bom para sustentar a experiência de existir sem colar desesperadamente em alguém.
Quando essa sustentação falha, o sujeito cresce com pouca experiência interna de continuidade. Sente-se inteiro apenas quando está grudado em alguém. Sem o outro, surge um vazio que desperta angústias primitivas: cair, desintegrar, sumir. Amar, para essas pessoas, não é simplesmente escolher; é respirar. E qualquer migalha relacional vira banquete.
É assim que se apaixonam por quem responde rápido, por quem é acessível, gentil, minimamente presente. Não importa se o outro realmente está disponível para amar; basta que ele acenda algo. A fome faz o resto.
Barthes, em Fragmentos de um discurso amoroso, nos ensinou que o sujeito apaixonado é, antes de tudo, um escritor de ficções. Ele não apenas encontra alguém; ele compõe uma narrativa. A gentileza de ontem vira o sinal de que “ele sente alguma coisa”, o convite casual vira começo de destino, a ausência vira suspense. E assim, a pessoa faminta vive de interpretar e amplificar qualquer gesto como prova de amor em potencial.
A tragédia silenciosa é que, quanto mais faminto, mais o sujeito aceita migalhas. Ama demais quem entrega de menos. Aguenta relações humilhantes porque, para quem viveu deserto, poça de água suja também mata a sede.
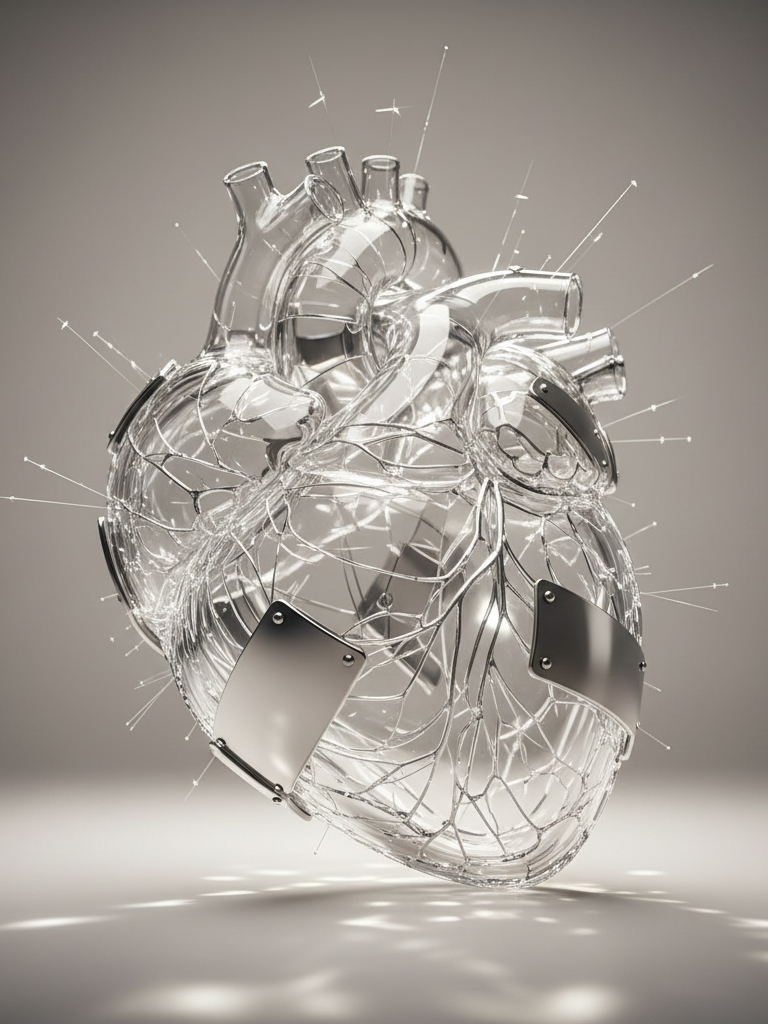
Como o amor encontra nossas falhas: desenvolvimento, defesas e modos de escapar
Se seguirmos a linha que Leopoldo Fulgencio traça a partir de Winnicott, dá para pensar o amor como um grande teste de qualidade do nosso percurso identitário.
No começo, há só um “sou” sem contornos: uma experiência de ser no qual dentro e fora ainda não se diferenciam. O bebê não sabe onde termina seu corpo e começa o mundo; o outro é quase extensão de si. Com o tempo, o mundo vai ganhando densidade. O sujeito descobre que há coisas que aparecem, somem, reaparecem e que ele não controla tudo. Esse processo passa pelos fenômenos transicionais, pelo uso do objeto, pela dolorosa conquista de uma experiência de si como alguém separado, mas ainda profundamente dependente.
Quando tudo corre “suficientemente bem”, o indivíduo chega à posição em que pode se sentir uma pessoa inteira, relacionando-se com outras pessoas inteiras, capaz de reconhecer que há amor e destrutividade dentro de si, que o outro também é ambivalente, que ninguém é só ideal nem só ameaça. É aí que, teoricamente, o cenário edípico se torna um romance mais existencial do que puramente infantil: triangulações, ciúmes, escolhas, renúncias, tudo isso ganha uma espessura psíquica.
Mas esse caminho nunca é perfeito. E é justamente nas falhas desse percurso que o amor, mais tarde, encontra seus pontos fracos e se transforma em terror.
Alguns, por exemplo, se defendem do amor aderindo ao controle. Aproximam-se e recuam, desejam e sabotam, flertam e desaparecem. Quando o vínculo começa a ganhar densidade, algo em seu interior dispara um alarme: “perigo de dependência”. Esses sujeitos podem investir pesado na vida profissional, no corpo, na performance, como se aí estivesse uma versão mais confiável de reconhecimento. Amar, para eles, significa arriscar a perda de uma unidade conquistada à duras penas. Melhor manter tudo em zonas de baixa profundidade.
Outros se defendem idealizando tão alto que o próprio desejo desmaia. Quanto mais perfeito o parceiro, mais impossível parecer tocar, desejar, gozar. O Eros não tolera o altar. O fiasco sexual, nesses casos, é menos uma falha do corpo e mais uma falha de compromisso com a realidade: ninguém consegue fazer amor com uma estátua. O sujeito sofre porque ama, e justamente por isso o desejo se retrai, não se permite “sujar” o objeto ideal com a própria pulsão.
Há também quem viva o amor como vício. Lygia Vampré Humberg fala dessa relação aditiva em que o outro se torna droga: alívio e veneno ao mesmo tempo. A pessoa sabe que a relação faz mal, mas não consegue sair. O padrão se repete: rompem, voltam, ameaçam, perdoam. Na base, a mesma busca: preencher um buraco que nunca foi nomeado, repetir uma cena que, no fundo, já é conhecida desde muito antes daquele relacionamento.
Estellon, ao falar em defesas antiamor, nos lembra que ninguém evita o amor por capricho. Evita-se porque, em algum ponto do caminho, amar significou risco real de desintegração psíquica. Houve momentos em que depender de alguém foi perigoso demais, humilhante demais, doloroso demais. Por isso, quando o amor reaparece na vida adulta, ele não vem sozinho: traz consigo fantasmas antigos, cenários infantis, contratos silenciosos.
No limite, o que chamamos de “dificuldade de amar” quase sempre é dificuldade de sobreviver ao que o amor nos faz lembrar.
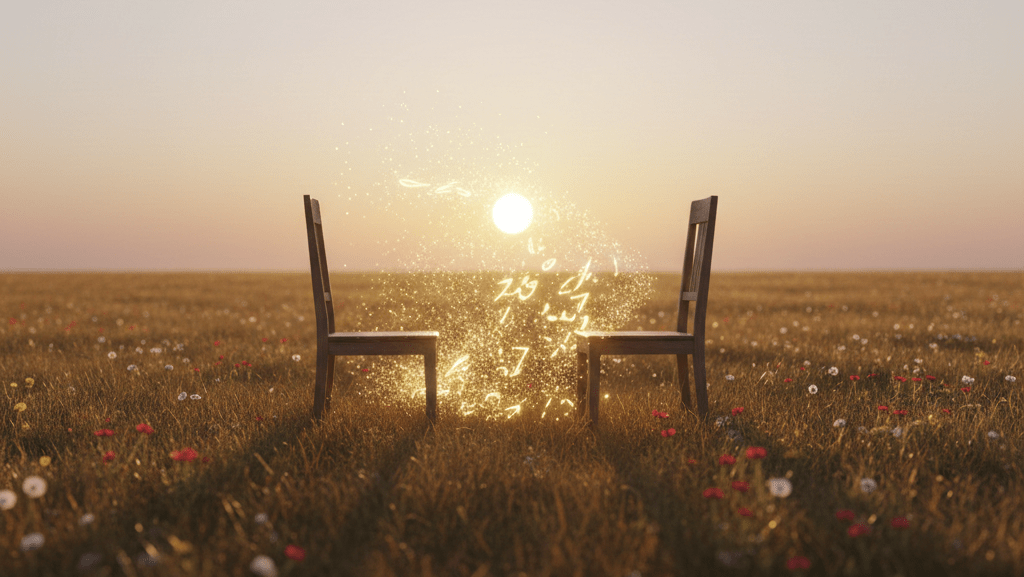
A vertigem necessária: amar, ser amado e não sair ileso
Freud escreveu que “nunca estamos tão indefesos contra o sofrimento quanto quando amamos”. E, no entanto, insistimos. Ainda hoje, em plena era de aplicativos, notificações, vídeos de um minuto e promessas de autonomia total, continuamos tropeçando uns nos outros, escrevendo mensagens longas e apagando antes de enviar, pedindo conselho ao amigo, ao terapeuta, ao algoritmo.
Edgar Morin nos lembra que o ser vivo passa a existência defendendo sua unidade, sua integridade, sua identidade. Vivemos numa espécie de vigília complexa: queremos preservar quem somos, mas também nos transformar. Queremos segurança, mas também acontecimento. O amor, nessa história, é uma brecha radical: uma fenda por onde entra o outro e, com ele, a possibilidade de não sermos mais os mesmos.
Clarice Lispector, com sua lucidez inclinada ao abismo, diz que amar é não saber. Lacan acrescenta: amar é dar o que não se tem a alguém que, talvez, nem queira. Barthes descreve o amante como alguém suspenso na linguagem, dividido entre o que sente e o que não consegue dizer. Estellon expõe a ferida erótica, a vergonha, o fiasco. Fulgencio e Winnicott mostram o percurso até tornar-se uma pessoa inteira, capaz de reconhecer a si, ao outro e ao vínculo que se forma entre os dois: esse terceiro elemento que nasce da relação. Morin, por fim, lembra a tensão permanente entre autopreservação e entrega.
Colocados lado a lado, todos eles parecem murmurar a mesma coisa: amar e ser amado é sempre perigoso demais e, talvez por isso, vital demais.
No fundo, o terror de amar é o terror de perder-se. O terror de ser amado é o terror de ser visto em zonas que nem nós mesmos visitamos.
Há quem se proteja fugindo, há quem se proteja se jogando demais, há quem se anestesie no trabalho, no corpo, na produtividade, na ironia. Mas nenhum desses recursos apaga o fato simples e incômodo: seguimos desejando ser tocados em lugares que não sabemos nomear. Seguimos, de algum modo, esperando que alguém escute aquilo que mal ousamos dizer.
Talvez a pergunta não seja “como amar sem sofrer?”, mas outra, mais honesta e mais rude: por que, sabendo que dói, ainda assim queremos amar?
Talvez porque, mesmo feridos, a vida empurra. O Eros, como diria Morin, insinua-se por entre as rachaduras do eu. A despeito dos fracassos, dos fiascos, do medo de repetir velhas cenas, algo em nós insiste em tentar de novo. Talvez menos pela promessa de felicidade e mais pela recusa de viver apenas em modo sobrevivência.
Amar e ser amado não é um prêmio reservado aos bem resolvidos. É, antes, uma aventura imperfeita, cheia de equívocos, onde ninguém sai ileso, mas alguns saem mais vivos.
No fim, talvez o “terror de amar e ser amado” seja o outro nome de uma coragem discretíssima: a de deixar que alguém nos toque exatamente onde, um dia, doeu demais. E, ainda assim, ir. Tremendo, sim. Desconfiando, sim. Mas indo. Não porque o amor garanta salvação, mas porque, sem ele, algo em nós permanece para sempre à margem de si mesmo.
Referências
Barthes, R. (1977). Fragments d’un discours amoureux.
Estellon, V. (2020). Le terreur d’aimer et d’être aimé.
Freud, S. (1914). On narcissism: An introduction.
Freud, S. (1921). Group psychology and the analysis of the ego.
Freud, S. (1930). Civilization and its discontents.
Fulgencio, L. (2022). As formas de ser e de se tornar sujeito: Winnicott e a perspectiva do desenvolvimento emocional.
Han, B.-C. (2018). A expulsão do outro.
Lacan, J. (1966). Écrits.
Lispector, C. (1973). A hora da estrela.
Morin, E. (1980). Le méthode 2: La vie de la vie.
Morin, E. (2004). Le méthode 5: L’humanité de l’humanité.
Vampré Humberg, L. (2017). Amor e vício: a lógica das relações aditivas.
Winnicott, D. W. (1971). Playing and reality.


Deixe um comentário