Um ensaio sobre feminicídio, poder e responsabilidade coletiva
Mais de mil mulheres foram assassinadas no Brasil, em 2025, pelo simples fato de serem mulheres. O dado é preciso, verificável, repetido nos noticiários. Ainda assim, ele falha. Falha porque não alcança o que insiste em escapar às estatísticas: o modo como essa violência se repete, se normaliza e se infiltra no cotidiano como um ruído constante, quase previsível.
Mil não é apenas um número. Mil é uma cadência. Uma sequência de nomes interrompidos. Uma coreografia brutal que se repete com pequenas variações: o ex-companheiro que não aceita o fim, o homem que confunde amor com posse, o lar que se transforma em cenário de extermínio. O gesto muda pouco. Mudam as cidades, os rostos, as idades. O enredo permanece.
Os dados que atravessam os noticiários e os registros oficiais do Ministério da Justiça não narram casos isolados. Eles expõem um padrão. Do mesmo modo, os números da ONU são inequívocos: a cada dez minutos, uma mulher ou menina é morta por alguém que dizia amá-la ou protegê-la. O espaço da intimidade, paradoxalmente, segue sendo um dos mais letais.
Há algo de profundamente perturbador nesse quadro: o feminicídio não surge como ruptura, mas como desfecho. Ele costuma ser o último capítulo de uma história longa de controle, humilhação, ameaças e silenciamentos. Antes do golpe final, houve palavras. Houve vigilância. Houve medo. Houve sinais ignorados.
Quando esses crimes são tratados como explosões súbitas de violência, algo se perde. O que se perde é a compreensão de que estamos diante de uma falha estrutural, cultural, simbólica e civilizatória. Não se trata apenas de homens violentos, mas de uma lógica que autoriza, justifica e naturaliza a eliminação do feminino quando ele ousa existir fora da obediência.
Há, portanto, uma pergunta que insiste em atravessar os números: o que há em nossa organização social que transforma o desejo de autonomia de uma mulher em ameaça mortal?
Este ensaio parte desse incômodo. Não para explicar o feminicídio como exceção, mas para pensá-lo como sintoma. Um sintoma que fala de machismo, de viriarquias frágeis, de masculinidades incapazes de elaborar a perda e de uma cultura que ainda confunde poder com amor.
O lar como território de risco
Existe uma imagem persistente que atravessa séculos de cultura. A casa como refúgio. O lar como lugar de proteção, cuidado e pertencimento. É justamente essa imagem que os dados desmontam com violência silenciosa. Para milhares de mulheres, o espaço doméstico não é abrigo. É fronteira instável. Às vezes, é sentença.
Os números divulgados pela ONU são claros e perturbadores. A maioria dos feminicídios ocorre no âmbito privado. São crimes perpetrados por parceiros íntimos ou familiares. Não se trata de violência que irrompe do lado de fora, mas de algo que cresce dentro, alimentado pela proximidade, pela dependência afetiva, econômica e simbólica.
Há aqui uma inversão trágica. O lugar socialmente associado ao amor e à segurança torna-se o espaço onde o risco se intensifica. O agressor não é um estranho. É alguém que conhece rotinas, medos, fragilidades. Alguém que sabe onde ferir. Alguém que se sente autorizado.
Simone de Beauvoir já apontava que a mulher, mesmo dentro da casa, permanece como Outro. O espaço doméstico, longe de ser neutro, é atravessado por relações de poder historicamente desiguais. O que se apresenta como cuidado muitas vezes opera como vigilância. O que se nomeia como zelo pode esconder controle. O que se vende como amor, não raro, exige submissão.
Quando uma mulher decide romper, sair, recusar ou simplesmente existir fora da expectativa que lhe foi imposta, algo se desorganiza. Não apenas no vínculo, mas no imaginário de quem acreditava ter direito sobre aquele corpo, aquela presença, aquela vida. É nesse ponto que o lar deixa de ser casa e se converte em campo de disputa.
bell hooks nos lembra que o amor, quando dissociado da ética, não liberta. Domina. Onde não há reconhecimento da alteridade, há apropriação. Onde não há escuta, há imposição. Muitos feminicídios nascem exatamente desse curto-circuito. Não da intensidade do amor, mas da incapacidade de amar sem possuir.
As narrativas jornalísticas frequentemente descrevem esses crimes como tragédias familiares. A expressão é enganosa. Ela suaviza o que precisa ser nomeado. Não se trata de tragédia no sentido do inevitável. Trata-se de violência produzida em contextos previsíveis, repetidos e conhecidos.
Talvez seja preciso dizer com todas as letras. O problema não é a casa. É o que se autoriza dentro dela.

A violência que não começa no último ato
Feminicídios não acontecem de repente. Eles raramente são um ponto de partida. Na maioria das vezes, são um ponto de chegada. O último gesto de uma sequência longa, insistente e progressiva de violências que foram sendo toleradas, relativizadas ou invisibilizadas ao longo do tempo.
Antes do assassinato, houve controle. Antes do controle, houve desconfiança. Antes da desconfiança, houve a ideia de que amar é vigiar. O que se chama de ciúme, muitas vezes, já é uma forma inicial de cerco.
A ONU é precisa ao afirmar que o feminicídio costuma integrar um contínuo de violência. Esse contínuo inclui ameaças explícitas, humilhações cotidianas, isolamento social, perseguições digitais e agressões físicas que escalam pouco a pouco. Nada disso acontece sem aviso. O problema é que o aviso raramente é ouvido.
Do ponto de vista psíquico, observa-se uma dificuldade profunda de lidar com a perda e com a frustração. A separação não é simbolizada como fim de um vínculo, mas vivida como aniquilação narcísica. O outro deixa de ser sujeito e passa a ser extensão.
Nesse cenário, a violência aparece como tentativa desesperada de restaurar um poder perdido. Não é impulso cego. É ato organizado, frequentemente anunciado. Muitos feminicídios foram precedidos por boletins de ocorrência, medidas protetivas e relatos de ameaça.
Tratar o feminicídio como explosão momentânea é uma forma sofisticada de negar sua previsibilidade. Enquanto não nomearmos o contínuo, continuaremos lidando apenas com o fim. E o fim, quando chega, já é tarde demais.
Machismo e viriarquia: quando a masculinidade se sente ameaçada
O feminicídio não é apenas um crime contra uma mulher específica. Ele é uma resposta violenta a um deslocamento simbólico mais amplo. Algo se move quando uma mulher decide sair, romper ou escolher.
A viriarquia não se expressa apenas pela força física. Ela se manifesta como expectativa silenciosa de obediência, como direito não declarado sobre o corpo e o tempo da mulher, como intolerância diante da autonomia.
Há masculinidades que não suportam o não. Não suportam a perda. O rompimento é vivido como humilhação, como ataque à virilidade, como desautorização existencial. O que não é elaborado simbolicamente retorna no real sob a forma da violência.
bell hooks foi contundente ao afirmar que o patriarcado ensina os homens a confundir amor com domínio. Quando esse controle falha, a violência surge como tentativa de restaurar uma hierarquia ferida.
Conceição Evaristo nos lembra que os corpos femininos carregam histórias silenciadas. O feminicídio incide sobre vidas já atravessadas por desigualdades de gênero, raça e classe. Ele é também o ápice de uma cadeia de desproteções.
Muitas dessas mortes não acontecem apesar da cultura. Elas acontecem porque a cultura, de diferentes formas, ainda as permite.
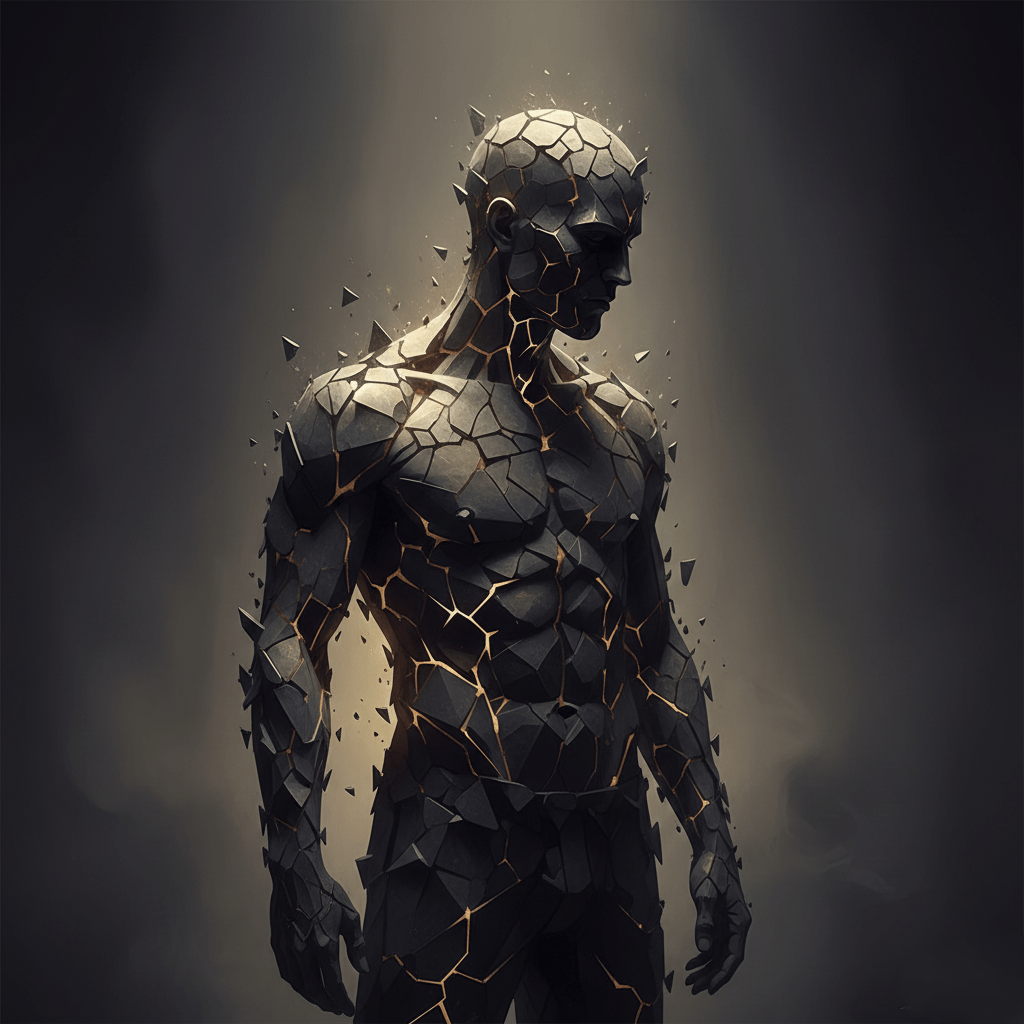
Interromper o ciclo: educação, cuidado e responsabilidade coletiva
Leis são necessárias, mas insuficientes. O problema é relacional, simbólico e educativo. Ele começa antes da polícia e muito antes da vida adulta.
Garantir proteção não é apenas oferecer medidas legais, mas criar condições reais de saída. Autonomia econômica, redes de apoio e políticas públicas de cuidado são dispositivos de sobrevivência.
A prevenção começa na infância. Nos modos como ensinamos meninos e meninas a lidar com limites, frustrações e diferenças. Começa quando autorizamos a vulnerabilidade masculina e quando desmontamos a ideia de que amar é dominar.
Interromper o ciclo da violência exige reconhecer que o feminicídio não é um problema das mulheres. É um problema social. Ele se sustenta em silêncios, minimizações e normalizações cotidianas.
Prevenir o feminicídio é retirar da violência o estatuto de resposta possível. É criar condições para que a vida feminina não precise ser constantemente defendida.

Conclusão: enquanto chamarmos de exceção, continuará sendo regra
O feminicídio não nos confronta apenas com a violência de alguns homens. Ele nos confronta com o modo como organizamos afetos, poderes e silêncios. Cada morte revela menos um desvio individual e mais um pacto coletivo mal resolvido.
O que talvez seja mais perturbador é que essas mortes já não nos surpreendem. Circulam como notícia. Geram indignação breve. E passam. Quando a morte de mulheres se torna parte do fluxo informativo, algo da nossa sensibilidade ética já se perdeu.
Não basta dizer que somos contra. É preciso reconhecer onde seguimos cúmplices. Onde silenciamos. Onde relativizamos. Onde preferimos explicar em vez de responsabilizar.
Enquanto tratarmos essas mortes como tragédias privadas, continuaremos falhando publicamente. Enquanto confundirmos amor com posse e masculinidade com domínio, o número continuará crescendo.
Pensar o feminicídio é recusar a anestesia. É sustentar o incômodo. É aceitar que a responsabilidade não é abstrata, mas cotidiana. E que ela começa exatamente onde é mais difícil.
Referências
Beauvoir, S. de. (1949). O segundo sexo.
Evaristo, C. (2014). Insubmissas lágrimas de mulheres.
Evaristo, C. (2014). Olhos d’água. .
hooks, b. (2000). All about love: New visions.
Ministério da Justiça e Segurança Pública. (2025). Dados sobre feminicídio no Brasil. Brasília.
ONU Mulheres & UNODC. (2025). Femicide Brief 2025. Nações Unidas.
Rede Globo. (2025, 1º de dezembro). Brasil tem mais de mil casos de feminicídio registrados em 2025. Jornal Nacional.
Referências adicionais estão disponíveis nos links abaixo:
Virilidade à venda: a tragédia cômica de ser homem
Entre muros e pontes: o lugar dos homens na luta contra a misoginia


Deixe um comentário