O amor é a única guerra que atravessa todos os tempos sem jamais declarar trégua. Ele pode nascer no silêncio de um quarto, no campo de batalha ou na tela iluminada de um celular às três da manhã. Pode vestir o nome de paixão, amizade, desejo ou sangue, mas nunca se deixa capturar por uma definição. Talvez seja por isso que continuamos a persegui-lo: porque, no fundo, sabemos que é ele quem nos persegue.
1. O amor em tempos de guerra
Enquanto bombas explodiam ao longe, em pequenas aldeias francesas, outro tipo de detonação acontecia em segredo: o desejo. No meio da Primeira Guerra Mundial, quando homens partiam para a linha de frente e mulheres ficavam à espera, um menino de quinze anos se aproximou de uma jovem de dezoito. Marthe. O nome dela soa como um sussurro antigo, quase bíblico, desses que carregam promessa e pecado ao mesmo tempo.
O noivo de Marthe lutava por uma pátria. Ela, por sua vez, travava outra batalha — a de existir em um mundo que dizia o que ela devia sentir, vestir, esperar. E então aparece ele: um adolescente ainda cheio de dúvidas, mas com a insolência dos que desconhecem limites. O que começa como um flerte tímido logo se transforma em um caso ardente, clandestino, escandaloso.
Radiguet, o autor de Le diable au corps, tinha por volta de 17 ou 18 anos quando começou a escrever essa história, publicada quando ele tinha apenas 19. Escrever sobre aquele amor proibido parecia não ser uma escolha, mas uma urgência. Como se ele próprio tivesse pressa em registrar, em carne viva, a intensidade daquilo que ainda queimava por dentro. Talvez porque amar, naquele contexto, fosse também uma forma de sobreviver — e de se opor à lógica de um mundo que se devorava em nome da guerra.
A guerra oficial se dava nos campos de batalha, mas a guerra íntima acontecia entre lençóis. Enquanto tiros ecoavam ao longe, eles se encontravam em silêncios abafados, na pressa de um abraço, na urgência de um beijo proibido. Cada toque carregava a vertigem de um risco: não apenas serem descobertos, mas se descobrirem a si mesmos no espelho do outro. E aqui surge a pergunta que lateja sob a pele: é amor ou apenas o ardor de quem sente que pode perder tudo a qualquer momento?
Marthe, dividida entre a promessa pública de fidelidade e a pulsão privada do desejo, encarna o dilema de muitos amores: aquilo que se espera de nós e aquilo que, em segredo, realmente queremos. O menino, ainda sem idade para votar ou ir à guerra, experimenta a vertigem de ter em mãos uma mulher e uma história maiores do que ele. O mundo inteiro estava em chamas — e eles também.
Amar, afinal, sempre foi um ato de rebeldia. Seja contra o inimigo do outro lado da trincheira, seja contra a moral da própria aldeia. Enquanto os jornais falavam de generais e territórios, eles faziam revoluções silenciosas no quarto trancado. E talvez seja isso que mais incomoda: a guerra visível pode ser vencida ou perdida, mas a guerra invisível do desejo… essa nunca tem fim.
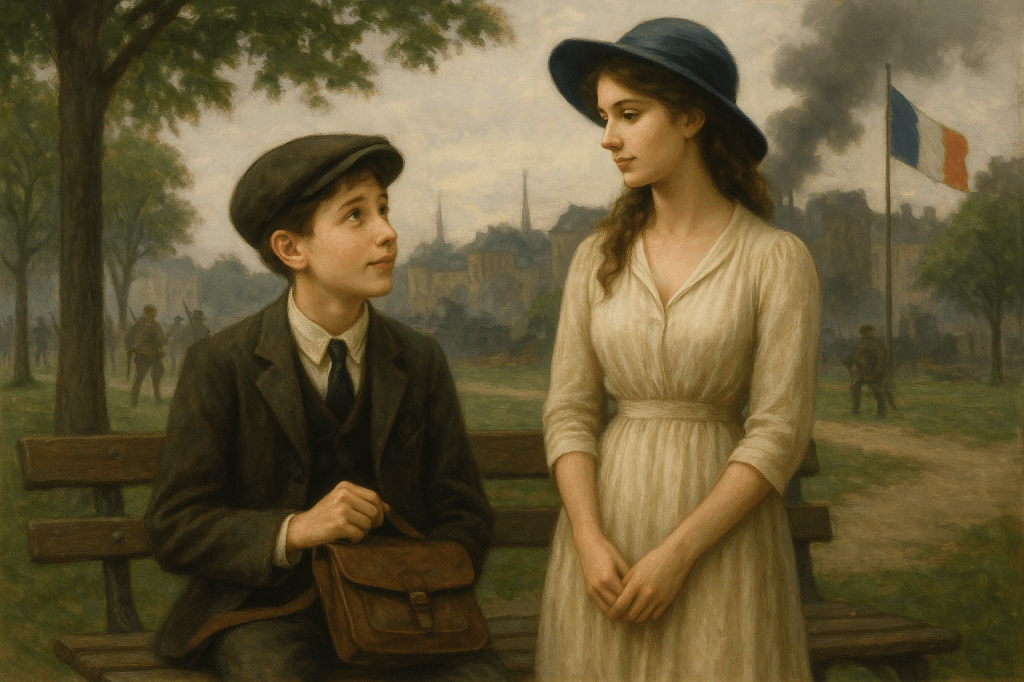
2. Véspera: o amor em suas múltiplas máscaras
Se em Le diable au corps o amor se revela como escândalo, desejo e guerra íntima, em Véspera, de Carla Madeira, ele se espalha em muitas direções — como água que se infiltra em fendas invisíveis. O livro não fala de trincheiras, mas fala de combates. Não daqueles que estampam manchetes, mas dos que se travam dentro das casas, das famílias, dos corpos. Cada personagem parece carregar um coração como quem segura uma granada: qualquer gesto, qualquer palavra, pode ser a faísca que explode tudo.
Em Véspera, o amor se desdobra em vínculos que não cabem em definições simples. Há o amor fraterno, vivido pelos gêmeos Caim e Abel, laço tão íntimo que beira a fusão — e tão perigoso que roça a destruição. Eles se amam intensamente, enquanto um ressentimento silencioso cresce nas sombras, lembrando que certos afetos são tão complexos que os gestos de cuidado podem ocultar desejos de ferir. O amor, ali, é faca de dois gumes: une, mas também corta. É o mesmo sangue que os conecta e separa.
Há ainda o amor entre amigas, tecido nas histórias de Veneza e Vedina, um tipo de vínculo que foge à lógica binária do “só amizade” ou “algo mais”. É afeto, é cuidado, é um tipo de desejo que não precisa de nome para existir. Esse amor não busca palco nem justificativas — ele é, simplesmente, como um rio que segue seu curso, mesmo quando ninguém está olhando.
E, claro, há o amor erótico, com toda a sua intensidade febril. Amores que ardem e consomem, que deixam rastros de perfume e cinzas. Amores que se fazem de urgência, de corpos que se encontram como se estivessem à beira de um precipício, lembrando que o desejo também é uma forma de guerra: contra o tempo, contra a morte, contra a solidão.
Carla Madeira nos mostra que não existe um único amor, mas um caleidoscópio de formas e intensidades. Cada relação, seja entre irmãos, amigas ou amantes, é um território em disputa, cheio de linhas tênues e zonas proibidas. O amor, nesses cenários, não é apenas sentimento — é força criadora e destrutiva, capaz de erguer impérios ou reduzi-los a pó.
Talvez seja por isso que o amor nos fascina e nos apavora: porque ele é, ao mesmo tempo, promessa de salvação e ameaça de ruína. E quando achamos que entendemos sua lógica, ele muda de rosto, de nome, de direção. Um dia é cuidado; no outro, obsessão. Ontem era silêncio; hoje, grito. Talvez amar seja viver na véspera de algo — na iminência constante de perder, ganhar, ou simplesmente ser atravessado por um sentimento maior do que nós mesmos.
3. A pergunta inevitável: o que é o amor?
Depois de percorrer essas histórias — Marthe e o menino em meio à guerra, os gêmeos Caim e Abel, Veneza e Vedina, os amantes que se devoram — uma inquietação persiste, como uma música de fundo que não conseguimos calar:
Afinal, o que é o amor?
Não falo do amor que as canções simplificam, nem do que as redes sociais exibem em fotos editadas. Falo desse amor que fere e cura na mesma medida.
Desse sentimento que pode ser promessa e sentença, colo e abismo, sopro e vertigem. O amor que, às vezes, não nos deixa dormir — e, outras vezes, não nos deixa acordar.
Será que o amor é apenas um nome que damos a uma sucessão de desejos, faltas e memórias? Ou será que ele é algo que existe por si, uma força primitiva que nos atravessa antes mesmo de aprendermos a falar? Talvez ele seja a pergunta mais antiga da humanidade, aquela que muda de forma, mas nunca de essência. A mesma que fazia Platão sonhar com metades perdidas, Freud investigar nossos fantasmas, e poetas escreverem versos que atravessam séculos.
Mas a verdade é que o amor sempre escapa quando tentamos defini-lo. Ele é como a água que escorre por entre os dedos — quanto mais queremos segurá-lo, mais ele se dissolve. Quando acreditamos entendê-lo, ele muda de pele, ri de nós, e se esconde em algum lugar dentro do outro, dentro de nós mesmos.
Talvez seja por isso que continuamos a perguntar, a buscar, a sofrer, a criar histórias sobre ele: porque precisamos dessa narrativa para suportar o vazio que ele deixa quando não está.
E aqui, diante dessa pergunta, algo se revela: será que queremos realmente saber o que é o amor, ou preferimos viver na incerteza, na esperança de que ele seja sempre maior do que qualquer resposta? Talvez amar seja justamente isso: habitar a dúvida, permanecer na vertigem, permitir que a vida siga indomada. Amar pode ser não saber. E, ainda assim, se lançar — como quem caminha de olhos vendados, confiando que haverá chão ou, quem sabe, asas.
4. Entre pulsões e complexidades: Freud encontra Morin
Quando Freud olhou para o amor, não viu apenas romance — viu feridas antigas vestidas de flores. Para ele, amar é repetir: buscamos no outro algo familiar, uma promessa de reparação. “Ama-se onde se foi amado… ou onde se deseja reparar aquilo que não se recebeu.” É por isso que, quando somos amados, sentimos uma força quase indestrutível — não porque nos tornamos fortes, mas porque alguém nos sustenta com seu olhar. O velho “Penso, logo existo” parece então ceder lugar a uma máxima mais primitiva: “Sou visto, logo existo.”
Edgar Morin, por sua vez, vê o amor como um sistema vivo, feito de paradoxos: união e separação, caos e ordem, criação e destruição. Amar, para ele, não é buscar a fusão perfeita, mas aprender a dançar na instabilidade, aceitando que o amor não se explica — apenas se vive, em toda a sua complexidade.
Hoje, esses dois olhares se cruzam em um palco luminoso e inquietante: as redes sociais. O amor deixou de ser apenas íntimo para se tornar performance pública. Não basta sentir — é preciso mostrar, postar, exibir.
Cada declaração vira conteúdo, cada gesto precisa de testemunhas. O “sou visto, logo existo” ganhou uma atualização digital: “Sou curtido, compartilhado, comentado… logo existo.”
E, nesse novo idioma do amor, até o silêncio fala alto. Uma mensagem visualizada e não respondida pode soar como abandono, traição, até guerra declarada. O coração bate na notificação: dois risquinhos azuis, mas nenhum retorno. Talvez, no fundo, estejamos sempre nesse impasse: queremos profundidade, mas nadamos em águas rasas; buscamos conexão, mas trememos diante da ausência de uma resposta que nunca chega. Freud diria que seguimos tentando resolver nossas histórias antigas — só que agora, diante de uma plateia invisível, global, ansiosa por espetáculo.
No fim, Freud e Morin não se contradizem. O primeiro nos lembra do inconsciente que nos aprisiona, o segundo do tecido vivo que nos desafia. E juntos nos dizem que amar é repetir, mas também inventar. É carregar cicatrizes antigas e, ainda assim, ousar escrever algo novo — mesmo que seja apenas uma frase digitada, aguardando aquele retorno que talvez nunca venha.
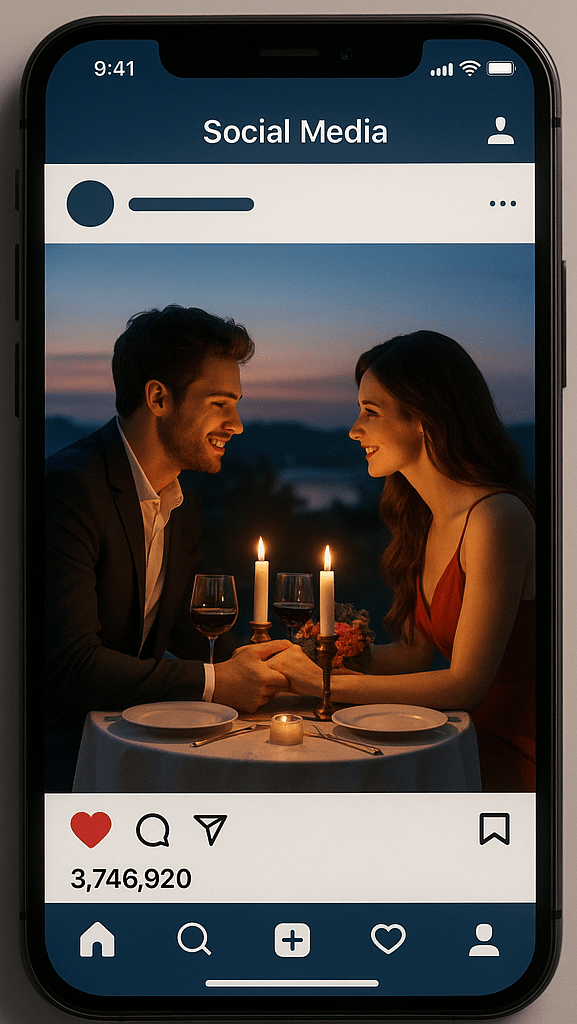
5. Conclusão: o enigma permanece
Do jovem de Radiguet e sua Marthe, em meio à guerra, aos gêmeos de Véspera, às amigas Veneza e Vedina, aos amantes clandestinos e aos corações digitais de hoje — todos habitamos a mesma pergunta disfarçada em mil histórias: o que é, afinal, o amor?
Ele atravessa séculos, personagens, trincheiras e redes sociais, como uma força indomável, insistente, que nos atravessa antes mesmo de sabermos pronunciar seu nome. Freud tentou decifrá-lo entre pulsões e fantasmas.
Morin o viu como caos e criação misturados. Nós, aqui, seguimos como testemunhas e vítimas, cúmplices e reféns de algo que nos excede, que nos molda e nos desfaz.
Talvez amar seja suportar a vertigem de não se saber inteiro. Ser visto, desejado, esquecido, lembrado. E, no fim, existir nessa interseção instável entre o outro e nós mesmos: sou visto, logo existo.
Mas — e se ninguém estiver olhando? Será que ainda existimos, ou o amor precisa de plateia para continuar sendo amor? E mais: será que o outro é um espelho, uma resposta ou apenas a pergunta disfarçada que nos mantém vivos?
Referências
- Freud, S. (1915). Pulsões e seus destinos.
- Madeira, C. (2023). Véspera. Record.
- Morin, E. (2011). Amor, Poesia, Sabedoria. Bertrand Brasil.
- Morin, E. (2008). O Método 5: A Humanidade da Humanidade. Sulina.
- Radiguet, R. (1923). Le diable au corps.


Deixe um comentário