No final dos anos 90, já quase tropeçando nos anos 2000, precisei viajar a trabalho para Belo Horizonte. Eu já havia estado na cidade, mas numa infância tão distante que restava apenas uma vaga sensação de ruas largas e um céu que parecia maior. Não havia lembrança suficiente para confiar na memória, tampouco havia GPS, aplicativos, multimídia no carro ou qualquer voz digital disposta a me conduzir. O que havia era um guia de papel, desses que se dobram mal, resistem ao porta-luvas e exigem atenção quase cerimoniosa.
Sentei-me antes da viagem como quem estuda um mapa do tesouro. Observei as entradas da cidade, as avenidas principais, os nomes das saídas. Tracei mentalmente o percurso até o hotel onde ficaria hospedado para o evento. Havia ali uma confiança silenciosa no gesto de planejar e, ao mesmo tempo, uma aceitação discreta do risco. Errar fazia parte do caminho. Perder-se era uma possibilidade concreta, quase educativa.
A viagem transcorreu sem sobressaltos. As placas confirmavam o que o papel havia prometido. O corpo atento, o olhar treinado, a memória trabalhando em tempo real. Cheguei ao hotel com a estranha satisfação de quem não apenas alcançou um destino, mas o construiu passo a passo. A volta seguiu o mesmo ritual. Nenhuma rota recalculada, nenhum alerta de trânsito, nenhuma sugestão alternativa. Apenas estrada, papel e atenção.
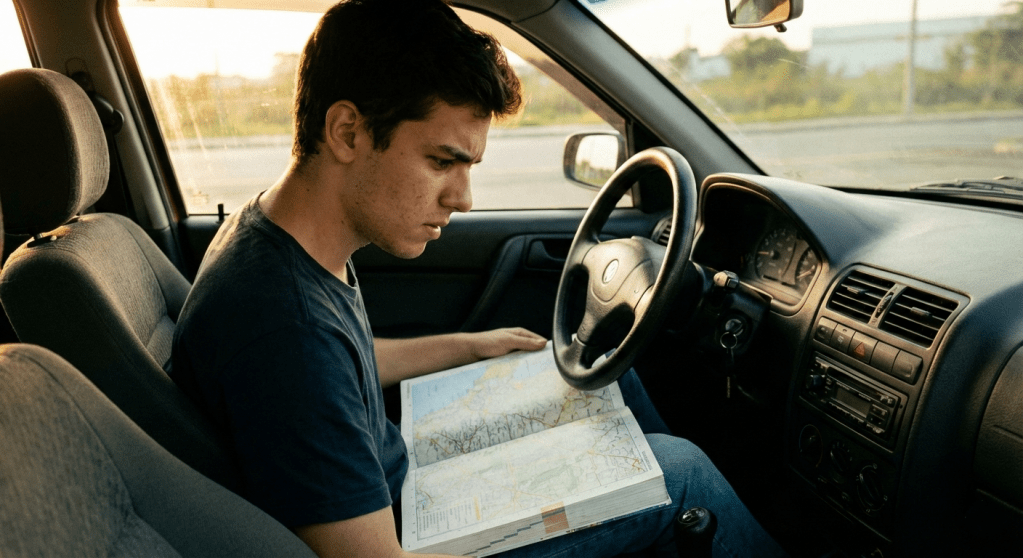
Hoje, ao entrar no carro, nada disso é necessário. Antes mesmo de apertar o botão de ligar, gesto que substituiu o antigo girar da chave, ele já parece saber para onde vou. Pergunta se estou indo para casa ou para o trabalho, calcula o melhor trajeto, desvia de engarrafamentos que ainda nem existem e me conduz com uma precisão quase maternal. Não preciso lembrar. Não preciso decidir. Não preciso sequer errar.
Foi com essa imagem ainda pulsando que decidi retomar Stranger Things. Não apenas para me atualizar sobre a série, mas para revisitar o mundo que ela encena. Um mundo em que crianças se orientam por mapas improvisados, rádios enormes movidos a pilhas e bicicletas que cruzam a cidade como se o tempo tivesse outra densidade. Um mundo que pode ser lido de muitas formas: como ficção científica, como alegoria do bem e do mal, como narrativa sobre dor, crescimento e perda. Mas, desta vez, algo se impôs com mais força.
Talvez Stranger Things fale, sobretudo, do tempo. Não apenas do tempo histórico em que se passa, no final dos anos 70 e início dos anos 80, mas do modo como se habitava o mundo antes que ele passasse a nos localizar, nos antecipar, nos conduzir. Um tempo em que o erro ainda tinha espaço, a espera ainda produzia encontros e o desconhecido não era imediatamente neutralizado por um algoritmo.
Na série, não há computadores nas casas, não há celulares nos bolsos, não há a possibilidade de verificar em tempo real onde cada um está. O telefone é fixo, preso à parede como um pacto silencioso com a espera. A música exige gesto, fita, rebobinar. O filme pede preparo: escolher o VHS, ajustar o tracking, aceitar que a imagem nem sempre será perfeita. A comunicação acontece no corpo, no encontro, no atraso, no desencontro. Nada disso faz daquele mundo um lugar melhor ou pior. Apenas diferente. Radicalmente diferente.
As crianças e adolescentes se encontram porque combinam antes. Se atrasam, esperam. Se algo dá errado, precisam lidar com o imprevisto sem a chance de enviar uma mensagem salvadora. Talvez por isso os vínculos pareçam mais espessos, mais sensoriais. Há algo do corpo que ainda está implicado na experiência. O tempo não é um inimigo a ser vencido, mas um território a ser atravessado.
Eu vivi esse mundo, que se estendeu pelos anos 80 e avançou pela transição em que a tecnologia começou a redesenhar o cotidiano. Vivi o tempo em que ela chegava devagar, anunciando promessas, sem ainda colonizar cada gesto. Um mundo que exigia presença, planejamento e uma certa tolerância ao erro. As brincadeiras eram majoritariamente presenciais, o tédio era mais longo e, curiosamente, mais fértil. Não havia como escapar dele com um toque na tela. Era preciso inventar algo. Ou simplesmente suportar.
Quando os computadores começaram a chegar ao mercado doméstico, vieram acompanhados de promessas quase messiânicas. Mudariam o mundo, diziam. Facilitariam a vida, ampliariam o acesso ao conhecimento, encurtariam distâncias. Em grande parte, cumpriram. Mas não sem cobrar um preço que, à época, ainda não sabíamos nomear. Cada avanço trazia também uma reconfiguração silenciosa do tempo, da atenção, da paciência.
Lembro-me quando o YouTube surgiu. Li, em uma edição da Newsweek, que aquilo revolucionaria a televisão, inaugurando o consumo sob demanda. A ideia me pareceu estranha, quase incômoda. Havia ali um misto de fascínio e resistência. Talvez porque algumas mudanças, mesmo quando inevitáveis, exigem um luto discreto. Não pelo que se perde em si, mas pelo modo como éramos quando aquilo ainda não existia.
As transições entre plataformas nunca foram neutras. O fim do Orkut, a migração para o Facebook, depois para o Instagram. Cada deslocamento produzia estranhamento, uma sensação de estar entrando numa casa nova sem saber exatamente onde ficam as janelas. Demorei a aceitar algumas delas. Não por rejeição absoluta, mas por necessidade de tempo. Resistir, às vezes, é apenas tentar compreender antes de aderir.
Curiosamente, nem toda tecnologia despertou hesitação. Quando surgiu o Spotify, confesso, fui rapidamente capturado. A possibilidade de ter praticamente toda a música disponível, instantaneamente, na palma da mão, era sedutora demais para ser ignorada. Ali, o encantamento venceu. Talvez porque a música já habitasse em mim como memória afetiva, e a tecnologia, nesse caso, parecia ampliar o acesso sem apagar completamente o ritual da escuta. Ainda assim, até ela evoluiria, refinaria seus algoritmos, sua forma de nos conduzir sem que percebêssemos.
Volto então ao carro. Ao mapa de papel. À estrada que exigia atenção plena. Hoje, os veículos se conectam sozinhos aos aplicativos de navegação. O trajeto é calculado, recalculado, ajustado em tempo real. Somos poupados do erro, da dúvida, da hesitação. Ganhamos eficiência. Perdemos, talvez, a intimidade com o caminho. Já não precisamos memorizar rotas, reconhecer marcos, construir mapas internos. O mundo passou a nos localizar.

Essa mudança não é pequena. Saber onde alguém está deixou de ser uma informação rara para se tornar um dado disponível. A ausência passou a gerar estranhamento. O silêncio, suspeita. A demora, incômodo. A tecnologia facilitou a comunicação, mas também reduziu os espaços de opacidade que protegiam o sujeito. Estamos mais conectados, sim, mas também mais convocados, mais acelerados.
Talvez seja aqui que o “mundo invertido” ganhe outra camada de sentido. Não como um lugar sombrio que ameaça invadir a realidade, mas como um tempo excessivamente iluminado, previsível, rastreável. Um mundo em que tudo se antecipa, tudo se sabe, tudo se mede. Um mundo em que errar o caminho virou falha, e não mais parte do percurso.
Stranger Things não nos convida a um retorno impossível ao passado. Ela nos oferece um espelho deslocado. Ao olhar para aquelas crianças pedalando sem localização por satélite, talvez não sejamos chamados a pensar apenas em como vivíamos antes, mas em como estamos vivendo agora. No modo como usamos o tempo que dizemos ter ganhado. No quanto delegamos à máquina aquilo que antes exigia presença, atenção e até um certo grau de risco. No que fazemos com a espera quando ela já não é necessária ou quando acreditamos que não é.
Talvez a pergunta não seja onde estamos, já que isso o mundo faz questão de nos dizer o tempo todo. A pergunta talvez seja outra, mais discreta e menos confortável. O que estamos deixando de percorrer por conta própria. O que já não suportamos sentir quando tudo anda rápido demais. O quanto ainda toleramos o vazio, o silêncio e a incerteza antes de pedir que algo ou alguém nos conduza.
Porque, mesmo com todos os caminhos calculados, ainda há algo em nós que resiste à rota mais curta. Algo que pede erro, desvio, demora. Algo que não se orienta por eficiência, mas por experiência. E talvez seja justamente aí que se jogue uma parte decisiva da nossa relação com o tempo, com o desejo e com nós mesmos, um território que nenhum aplicativo consegue indicar no mapa.
Qualquer hora dessas, talvez valha voltar a Stranger Things por outros caminhos. Pensar suas alegorias, os mundos internos e externos que se entrelaçam, a forma como o medo pode paralisar ou, curiosamente, produzir força e determinação. Mas isso fica para depois. Por ora, basta talvez sustentar a pergunta que a série deixa escapar pelas frestas: em que medida ainda sabemos habitar o mundo sem que ele nos diga, o tempo todo, por onde ir.


Deixar mensagem para zanymusicc710fb46d0 Cancelar resposta